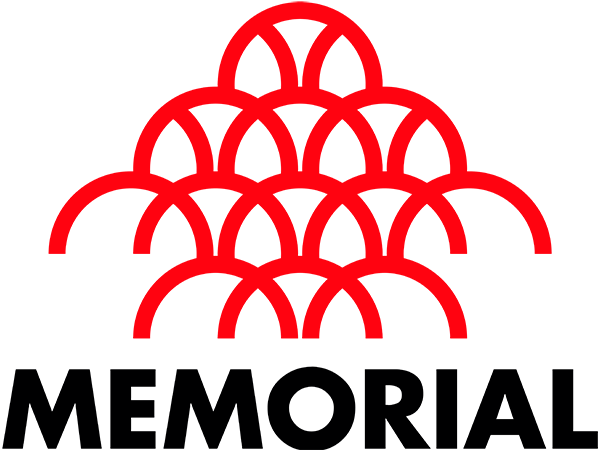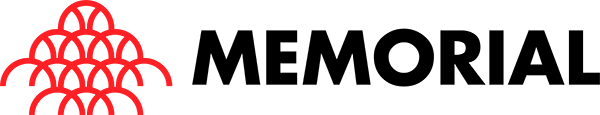COLUNA

Por Pedro Machado Mastrobuono
Presidente da Fundação Memorial da América Latina
Pós-doutor em Antropologia Social; Doutor em proteção ao Patrimônio Cultural; Advogado especializado em direitos autorais; e Ex-presidente do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)
As vozes que fundaram o silêncio: a presença africana como pilar da América Latina
Sexta-feira, 15 de agosto de 2025
Há silêncios que não são ausência de fala, mas produto de apagamentos. Silêncios fabricados, mantidos e naturalizados pelas instituições que selecionam o que deve ser lembrado e o que pode ser esquecido. No caso da América Latina, a presença africana não é um dado adicional à formação dos povos. É uma presença fundante, um pilar civilizatório que, no entanto, ainda resiste para ser reconhecido como tal nos currículos escolares, nos discursos públicos e, não raro, nos próprios museus.
A museologia tradicional, herdeira direta do colonialismo europeu, contribuiu para esse silenciamento ao tratar os sujeitos da diáspora africana como influências ou folclores, nunca como centros irradiadores de saber, ética e espiritualidade. Mas hoje, no campo expandido da museologia, aprendemos que o museu não é apenas lugar de guarda, mas também de escuta. E a escuta que se exige agora é a escuta do que foi calado. É nesse contexto que o Memorial da América Latina se reposiciona.
Não se trata de incluir a presença africana por deferência, mas de restituí-la como fundamento. A América Latina foi moldada pelo tráfico atlântico de milhões de seres humanos arrancados à força de seus territórios e transplantados para terras que, a seu modo, aprenderam a cultivar. Nessa travessia violenta, não vieram apenas corpos, vieram idiomas, cosmologias, tecnologias agrícolas, fórmulas de resistência, ritmos, afetos, genealogias e formas de conceber o tempo. Tudo isso, por séculos, foi desautorizado ou diluído na ideologia do caldeirão cultural.
A antropologia nos ensina que o corpo pode ser arquivo. E o corpo negro é, há séculos, o suporte dessa memória recusada. Nas danças, nos rituais, nos gestos do cotidiano, nas festas de rua e nos terreiros, se performam saberes que desafiam o registro clássico. São arquivos vivos, encarnados, que não cabem nas vitrines das taxonomias coloniais. A museologia, por sua vez, precisa encontrar formas de se colocar a serviço dessas performances, dessas oralidades, dessas espiritualidades que fizeram da resistência uma forma de existir.
A atuação do Memorial da América Latina, neste sentido, precisa ir além das exposições. Ela precisa ser plataforma, um lugar de confluência das vozes negras do continente, do Brasil à Colômbia, de Cuba ao Haiti, da República Dominicana à Venezuela. A diáspora africana não é um fenômeno nacional, mas transnacional. A memória negra latino-americana forma uma constelação e deve ser pensada como tal. Cabe a nós, como museu e como cátedra UNESCO, convocar esses encontros, articular redes, fomentar residências, dar centralidade ao que foi lateralizado.
É preciso reconhecer também que, nesses dois anos e meio de gestão, o Memorial tem empreendido uma série de iniciativas concretas nesse campo. Programações culturais, debates, exposições, encontros internacionais e colaborações com coletivos e intelectuais negros têm feito da instituição um espaço vivo de escuta e de reconhecimento. Esse esforço tem sido amplamente acolhido por representantes, organizações e lideranças do movimento negro, com os quais construímos uma sinergia real, ampliando o lugar dessas vozes no cenário da cultura e da memória latino-americana.
Entre as frentes mais urgentes está o reconhecimento das espiritualidades afro-diaspóricas como expressões filosóficas plenas. Ainda hoje, em pleno século XXI, escolas públicas hesitam em abordar com respeito as cosmologias iorubás, bantu, entre outras. As religiões de matriz africana são tratadas com suspeita ou relegadas à esfera do exótico, como se não fossem portadoras de ética, de estética, de metafísica e de uma visão radicalmente generosa da relação entre o humano e o sagrado. É preciso afirmar, com a serenidade dos justos, que o candomblé, a umbanda e tantas outras expressões não são restos de um passado, mas formas vibrantes de presença.
O Memorial tem o dever de ser agente de inflexão. Como museu e como cátedra, nossa responsabilidade se estende para além das salas de exposição. Devemos incidir na criação de políticas públicas que levem essas pautas às escolas, aos livros didáticos, à formação docente e aos espaços de cultura. A invisibilidade da herança africana, especialmente em sua dimensão espiritual, é um problema estrutural da narrativa oficial sobre a formação do povo brasileiro. E esse problema não se resolverá apenas com projetos culturais, mas com uma revisão de base das estruturas de ensino e representação.
Tensionar silêncios não é promover rupturas fáceis. É construir escutas difíceis. Mas essa é a missão que se impõe a todos que ocupam instituições de memória com compromisso ético. No Memorial da América Latina, sob nossa gestão, reafirmamos esse compromisso. Que nosso espaço seja, cada vez mais, lugar de reparação simbólica, de memória insurgente e de celebração do que foi, é e sempre será pilar: a presença africana como força criadora do continente.