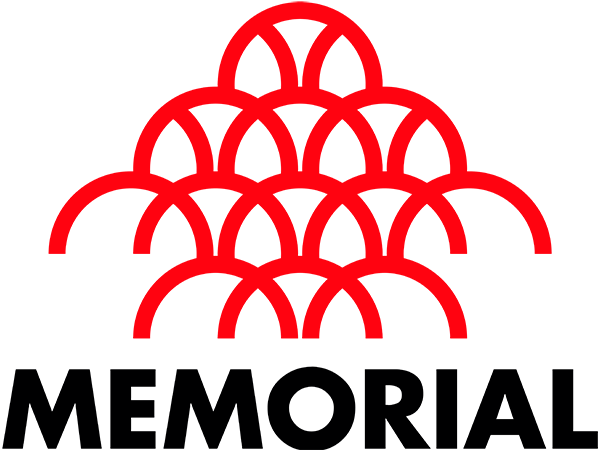Darcy era um apaixonado
Precisamos de uma pororoca indígena nas nossas veias e mentes
Renomado antropólogo, João Pacheco de Oliveira é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Museu Nacional. Realiza desde a década de 1980 estudos com indígenas, especialmente junto aos Tikuna, etnia do Alto Solimões na Amazônia, objeto de sua tese de doutorado, publicada em 1988. Orientou mais de 60 teses e dissertações em Antropologia Social, voltadas para povos indígenas da Amazônia e do Nordeste. De 1986 a 1994 coordenou um amplo projeto de monitoramento das terras indígenas no Brasil com apoio da Fundação Ford, projeto que resultou em muitos trabalhos analíticos, coletâneas e atlas.
Atuou como professor-visitante em diversos centros de pós-graduação e pesquisa no Brasil (Unicamp, UFAM, UFBA, UFPE e Fundação Joaquim Nabuco) e no exterior (Universidad Nacional de La Plata, Argentina; Sapienza Università di Roma; École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris; Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, e Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine, Sorbonne Nouvelle, Paris 3). Presidente da Associação Brasileira de Antropologia na gestão 1994-1996, na qual por diversas vezes coordenou a Comissão de Assuntos Indígenas. É pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Cnpq).
Nos últimos anos dedica-se a questões ligadas à antropologia do colonialismo e à antropologia histórica, com trabalhos relacionados ao processo de formação nacional e à historiografia, bem como a museus e coleções etnográficas. Curador das coleções etnológicas do Museu Nacional, recentemente organizou a exposição “Os primeiros brasileiros”, sobre indígenas do Nordeste, exibida em Recife, Fortaleza e Rio de Janeiro, atualmente em exibição no Museo de Bellas Artes Evita, em Córdoba, Argentina. Junto com lideranças indígenas foi um dos fundadores do Maguta: Centro de Documentação e Pesquisa do Alto Solimões, sediado em Benjamin Constant (AM), que deu origem ao Museu Maguta, hoje administrado diretamente pelo movimento indígena.
Nossa América: Professor, O que mais o aproxima de Darcy?
João Pacheco de Oliveira: Acho que é essa perspectiva de ver os índios como pessoas humanas, como interlocutores com as quais dividimos o destino e estamos sempre comprometidos. O trabalho de campo é uma experiência de mergulho em uma outra humanidade. Compromissos éticos, afetivos e políticos são estabelecidos nesse processo. O antropólogo é frequentemente usado para defender aquela população, é considerado um agitador, desestabilizador de uma situação. O caso paradigmático é o de Curt Nimuendajú, o mais famoso etnólogo brasileiro, que foi preso em 1940, acusado de ser agente infiltrado trabalhando contra os seringalistas. Ele estava na época com os Tikuna, povo com o qual também trabalhei, e teve todo o seu material confiscado. Darcy e a antropologia brasileira dos anos 1950 teve essa visão de que são índios vivos, parceiros dentro de um país, e são nossos interlocutores.
A tradição francesa decorre de outro domínio. Como Montaigne vê o primeiro indígena? É o Tupinambá que é levado para a França e não está reivindicando terra, nem respeito, nem lutando pelo xamanismo. O Tupinambá tem uma relação fria com Montaigne e então é transformado em filósofo, apresentando seus pontos de vista tal qual; mas não é um ser humano, é apenas um ventríloquo das teorias filosóficas expressas por Montaigne e do que foi traduzido para ele. Essa tendência de algumas antropologias no mundo vem até antes de Lévi-Strauss – a influência francesa foi muito determinante. Ela retira do indígena a carne e o osso, deixa-o descarnado de realidade, para que possa ser estudado livremente, como os índios com os quais Montaigne teve contato. Eles não tinham mais realidade como atores sociais, estavam ali sequestrados. Não é a situação de Darcy, Eduardo Galvão, Roberto Cardoso, os Villas-Bôas e outros quando, por exemplo, trabalharam no Parque do Xingu. Eles estavam pensando em como salvar aqueles indígenas.
Darcy foi importante na antropologia mundial para chamar atenção para a legitimidade da presença indígena, para considerar o índio como ser humano na sua totalidade e não reduzido a objeto de estudo. Houve referências muito interessantes em relação a isso num documento de 1971. Darcy Ribeiro participou da primeira Declaração de Barbados na companhia de jovens antropólogos. Ele teve um peso muito grande na escrita do documento. Não é que o documento reflita o indigenismo de Darcy, mas a antropologia de Darcy está muito bem refletida nele. A Declaração diz claramente que o antropólogo não pode tomar o indígena como objeto de estudo, mas precisa se incorporar e pensar em soluções viáveis para a continuidade dessa população. Essa é uma ideia interessante do grupo de Darcy. Roberto Cardoso fala da condição colonial do indígena dentro do Estado nacional: é como se fosse uma colônia interna. Alguns mexicanos falavam o mesmo, como Pablo Casanova e Rodolfo Stavenhagen. Darcy elabora essas questões muito bem e de forma contundente. O texto da Declaração de Barbados é muito atual. Há pouco se comemoraram os 50 anos do documento e vários antropólogos, de vários lugares do mundo, escreveram sobre isso e mostraram como o documento se junta a preocupações éticas de hoje. Essa postura muito científica de descompromisso com o selvagem – até o termo selvagem é perverso, um jeito colonial de falar – tem que mudar.
A preocupação da antropologia desde o final dos anos 1980 tem sido descolonizar as práticas de investigação, os textos, ter uma nova visão em relação aos indígenas, que eram apresentados de forma caricatural e limitada, sempre descritos como iguais, como se fossem clones… há atitudes muito diversas dentro de uma aldeia e são respostas culturais adequadas, dignas também – as pessoas divergem porque divergem, é natural os seres humanos pensarem diferente. Essa postura de Darcy em Barbados se relaciona hoje com a literatura descolonial, que procura tirar os indígenas da condição secundária e transformá-los em sujeitos da história, em produtores da antropologia, da literatura, da arte…
Essa postura de Darcy Ribeiro e Roberto Cardoso em Barbados era muito inovadora para a época. Praticamente o único que defendia uma posição parecida a essa era o antropólogo francês George Balandier, que se contrapunha a Lévi-Strauss na academia francesa e acabou sendo um pouco eclipsado. No geral, a antropologia hegemônica era pouco sensível a essas questões – os indígenas eram realmente objetificados, como qualquer objeto que pode e deve ser livremente estudado sem maior preocupação com usos e soluções para a vida deles. Nesse sentido, Darcy é muito atual e talvez explique o paradoxo de o autor brasileiro que já varou o maior número de traduções em línguas estrangeiras não ser muito conhecido pelos próprios antropólogos brasileiros. É o nosso antropólogo que já teve maior circulação em termo de obras, no exterior: a qualquer biblioteca do mundo que se vá, encontramos os livros de Darcy publicados na língua do país – incluindo chinês, árabe, russo…
Nossa América: Qual a principal contribuição do Darcy Ribeiro para os campos do indianismo e da antropologia?
João Pacheco de Oliveira: Eu começaria dizendo que o Darcy não pode ser pensado somente como um autor. Darcy teve várias vidas. Darcy foi militante comunista. Ele não é apenas um antropólogo; é também um educador e um político com atuação em várias áreas da administração pública. Diferentemente de seus contemporâneos que participaram do mesmo movimento – como Roberto Cardoso de Oliveira e Eduardo Galvão, antropólogos profissionais que se relacionavam apenas com o seu trabalho – ele não é apenas autor de uma obra. Desde cedo Darcy tinha essa característica de ser um intelectual–ator. Não era movido apenas pela paixão de escrever, mas tinha uma verdadeira paixão pelo Brasil – uma paixão para mudar o país. Darcy teve capacidade de atuar em muitas esferas da vida pública, com um impacto diferente de outros acadêmicos. Ele é aquele que teve sucesso em instituir uma política indigenista, aquele que criou universidades, aquele que criou o CIEP, aquele que no Rio de Janeiro criou uma política cultural com o Sambódromo… Uma pessoa com uma energia espetacular, com capacidade de se aplicar em vários assuntos e gerar resultados muito positivos.
Faço essa introdução porque acho o Darcy um personagem do pensamento social brasileiro, um inspirador de representações sobre o Brasil – com suas ações sobre o índio do Brasil.
Do ponto de vista da antropologia e do indianismo, sua principal obra seria a própria criação da política indigenista brasileira. O Darcy atuou de muitas maneiras em relação a isso, não foi apenas um antropólogo do Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. Sim, ele fez levantamentos de campo como antropólogo, mas logo se tornou um idealizador de ações. Rapidamente Darcy se transformou, pela proximidade com Rondon. Quando Darcy o conheceu, ficou completamente fascinado pela personalidade de Rondon, na altura uma pessoa bastante idosa, com mais de 80 anos. Enxergou em Rondon uma espécie de líder messiânico. Darcy se apaixona pelos índios a partir disso – e se apaixona sobretudo por trabalhar com os índios. Isso mudou a vida dele.
Até há poucos anos, o gabinete da presidência da Funai tinha uma foto do Rondon. Isso é obra de Darcy. Foi ele quem construiu Rondon como herói nacional, como a pessoa que criou o indianismo. Em textos como “O humanista Rondon”, “O indianista Rondon” Darcy tornou Rondon um pouco mais indianista e quase um antropólogo. Mas não era o Rondon, era o Darcy. Foi uma construção pela qual ele reconceituou a política de atuação do SPI a partir de suas interpretações. A forte atuação na política indianista foi a ação mais típica e duradoura de Darcy Ribeiro.
NA: Como ocorreu essa reconceituação da atuação do SPI?
João Pacheco de Oliveira: O SPI tem dois momentos: o primeiro, em que ele é basicamente a figura de Rondon, um militar positivista que atua com seu grupo de confiança, entre eles, ex-colegas do Colégio Militar e membros da Igreja Positivista. São essas pessoas que desenvolvem a Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas e os postos indígenas. Algumas vezes se usa a ideia de “sertanismo” para descrever as atividades de Rondon. O que ele fazia era atuar em situações de conflito, em que indígenas estavam sendo atingidos por alguma frente de expansão e podiam ser exterminados dentro de algum tempo, de modo violento. Rondon atraía essa população para a sedentarização, garantia a eles uma parte do território e estabelecia sobre eles uma espécie de tutela protetora do Estado. E do Exército como força especial: tanto que Rondon tinha o costume de colocar farda nos líderes indígenas. Esse grupo não tem nada a ver com o que depois ficou conhecido como SPI.
Com Darcy entra uma nova perspectiva, totalmente diferente. Isso porque, já no final dos anos 1940 e começo dos anos 1950, Darcy absorve a experiência do indianismo mexicano e norte-americano. Eram experiências administrativas bem fundadas, com concepções de integração nacional que propiciavam um lugar ao índio dentro da formação estatal. Darcy então chega com a perspectiva de construir uma nação brasileira integrando os índios, não de forma violenta mas por meio da ação do Estado, que desenvolveria uma ação regular sobre eles e criaria o indianismo brasileiro.
A relação com os indígenas foi permeada pela Igreja desde os primeiros tempos. Os jesuítas foram os tutores dos indígenas no período colonial. No século XIX foram os capuchinhos. A política do Império subsidiava as ações com os índios pelas missões religiosas. A própria política de resguardo de terra para os indígenas, desde o período colonial, é feita pelos religiosos: a terra é passada para os religiosos desenvolverem a catequese nas missões. A polaridade que havia na cabeça da sociedade nacional era: catequese ou extermínio. Se o índio não estivesse batizado, com alguma relação com uma missão e com características cristãs não estaria protegido e poderia ser morto como inimigo. A escravização era bastante frequente, inclusive em São Paulo, onde era muito forte a presença indígena nos séculos XVI e XVII. Essa foi a realidade durante o período colonial e no século XIX. Essa foi um pouco a linha da história do indianismo no Brasil.
Darcy, até por sua por sua origem, tem certa característica anticlerical. E ele começa a traçar um perfil bastante diferente: leva antropólogos e técnicos para trabalhar, organiza um SPI leigo, científico e racional, que são características das máquinas burocráticas. Darcy dá essa virada fundamental com sua forte atuação no SPI: foi antropólogo, depois chefe da Divisão de Estudos e logo conselheiro, secretário de Rondon. Acaba sendo a figura que estabelece o planejamento estratégico, é aquele que toca a máquina da política indianista.
A grande obra que marca o indianismo brasileiro é a criação do Parque do Xingu em 1954. Antes, Rondon não procurava saber quais eram os territórios habitados pelos índios, simplesmente os protegia do extermínio, retirando-os das áreas onde estavam em risco. Com o Parque do Xingu a política passou a ser totalmente diferente. Aquele grande parque seria, de certa maneira, a grande proposta do indianismo brasileiro. Tratou-se de proteger um conglomerado de rios que fecham uma parte do interior do país onde os indígenas interagem há séculos. O Parque do Xingu é o DNA do indianismo brasileiro: a partir dele prevalece a ideia de que a função do Estado não é catequizar índios ou militarizar as lideranças indígenas. A função do Estado é defender os territórios indígenas e o meio ambiente, resgatando um pouco também o Brasil da descoberta, como alguns textos diziam. Essa obra não foi exclusivamente do Darcy, foi de uma geração que trabalhou com ele, como Noel Nutells, sertanista, médico, e vários antropólogos. O próprio Rondon atuou muito nisso: esteve com presidentes da República, trouxe apoio dos militares, de empresários. O relatório que embasa a criação do Parque do Xingu foi preparado por Roberto Cardoso de Oliveira, um filósofo que foi capturado por Darcy numa palestra na USP e resolveu se tornar antropólogo porque viu Darcy falando do trabalho dele com os índios. O Roberto é quem dá continuidade a esse trabalho.
Analisar a proposta de criação do Parque do Xingu é útil para entender a questão hoje, com todos os problemas envolvidos. Inclusive sobre qual o papel do antropólogo que estuda a área e a cultura para subsidiar a decisão das autoridades administrativas e judiciais – porque os assuntos são judicializados. Mas essa temática só foi desenvolvida nos anos 1980 e 1990 com o Ministério Público. Esse ato original do grupo de Darcy – algo que não foi realizado no México nem nos EUA – propõe uma política absolutamente nova quanto aos territórios indígenas. Com esse ato eles instituem povos indígenas que vão conhecer e dominar essas terras. Essa é a base da política indianista brasileira.
Claro, tudo mudou muito desde então. Darcy foi banido pelo golpe militar de 1964, mas não foi possível apagar o que ele tinha feito em relação à política indianista. Ele produziu muita coisa, deu uma direção sobretudo. Darcy é o ideólogo: aquele que acredita em alguma coisa, aposta nisso, levanta uma série de argumentos, desenvolve razões, torna-se um polemista e um publicista da sua causa com muita tenacidade. É uma coisa que nem dá para dimensionar concretamente. Pense em Lévi-Strauss, por exemplo. Para conhecer sua influência, a antropologia estrutural, você tem que pegar alguns de seus livros. Com Darcy não são só os livros. As pessoas leram sobretudo Os índios e a civilização, um texto que circulou muito, sobre a integração dos povos indígenas no Brasil. É um senhor livro, apresenta a história do Brasil a partir da presença indígena. É o primeiro livro que torna a presença indígena central na formação brasileira. Mas a importância de Darcy vai além desse livro. Muitas pessoas que vivem e morrem pelo indianismo até me lembram Darcy e as equipes do SPI – eles amavam os índios. Até hoje ainda existe uma grande admiração pela figura de Darcy entre os técnicos da Funai. É um inspirador muito importante, mesmo fora do indianismo de Estado: a influência de Darcy é muito grande na Igreja Católica, no Conselho Indianista Missionário, nas outras igrejas, nas escolas que atuam com indígenas. Eles leem e refletem. Darcy criou um modo de pensar sobre os indígenas que é muito vivo e permanece até hoje.
NA: No romance Maíra, Darcy criou um índio fictício, com uma mitologia que funde várias mitologias. Um índio geral, que se via como índio e era visto como índio pela sociedade mas estaria integrado a essa sociedade com sua identidade diluída. Atualmente, entretanto, há um movimento contrário, de afirmação das identidades indígenas. Darcy estava errado?
João Pacheco de Oliveira: Darcy reflete muito a partir da perspectiva do Estado. Essa é a perspectiva dele – e não só na questão indígena. Ele faz parte de um conjunto de pensadores e de atores políticos profundamente atrelados à ação do Estado, que consideram que o Estado é que pode reformar a sociedade. Acho essa crença permanente na visão de Darcy. Não é que ele ignore as diferenças culturais de cada um. Como antropólogo ele fez trabalhos sobre os Kadiwéu, explorou aspectos específicos dessa população, fez etnografia com isso, produziu livro de arte sobre os Kaapor… Mas acho que grande parte da sua atuação como dirigente ou ideólogo do SPI era com essa figura um pouco mais geral do índio como objeto da administração.
Hoje o cenário mudou bastante, há toda uma preocupação dos indígenas em buscar origens étnicas mais específicas. Nenhum deles afirma que não é indígena – e embora às vezes algum jovem possa dizer “Ah eu não sou índio…”, isso não é representativo. Todos eles se consideram indígenas porque o índio é uma condição política no Estado brasileiro. Eles têm direitos enquanto indígenas. Mas, para além desse aspecto, eles têm horizontes diferentes, por suas culturas, suas línguas, suas experiências históricas muito diversificadas. O que marcou muito a atuação do Darcy é a ideia de que o caminho do indígena, a salvação do indígena passa pela ação do Estado brasileiro. Daí vem sua grande admiração por Rondon e os militares positivistas que criaram a República. Na maioria eram pessoas de origem pobre que se dedicavam à tarefa de construir uma identidade nacional. Mas hoje a perspectiva dos movimentos indígenas, dos intelectuais e outros atores é bem diferente.
O Darcy da grande obra da criação do Parque do Xingu continua vivo… No fundo, o Xingu é o nascimento de todas as terras indígenas brasileiras, é o modelo que vai ser reproduzido em todas as terras indígenas brasileiras, muito diferente do que eram as missões religiosas e do que era a atuação do SPI. A Constituição de 1988 torna isso mais forte. Mas, se a questão da terra, do território, permanece, hoje os indígenas falam o tempo todo sobre protagonismo, não querem ter salvadores, não querem ter mais dentro do órgão deles uma enorme fotografia do general Rondon. Eles querem colocar seus chefes, seus avós, seus pais, aqueles que lutaram pelo processo, é um outro momento. Para Darcy isso certamente seria uma coisa bem nova, ele não viveu essa realidade que começa a se esboçar nos anos 1980. Nessa época Darcy estava em outra articulação, era vice-governador do Rio de Janeiro, depois senador.
É importante ter em mente em que fase de vida Darcy foi especificamente antropólogo. Ele é lembrado pela obra que teve e pelos resultados concretos mas, depois de certo momento, ele não se envolve mais na vida da antropologia, nas atividades acadêmicas. Darcy foi reintegrado à Universidade de Brasília, mas efetivamente nunca voltou a dar aulas, não voltou a participar das reuniões da Associação Brasileira de Antropologia, de cuja criação havia participado nos anos 1950. Na agenda de Darcy não cabia mais a antropologia – e os índios da mesma maneira. Ainda coube o famoso Mário Juruna, que foi um deputado com atuação muito importante. E embora Brizola tenha eleito Juruna, era Darcy o político que atuava do lado de Juruna. Continuava pensando nas representações dos indígenas e atuava em prol de uma atitude favorável da sociedade em relação a eles. Darcy será sempre associado a essa perspectiva de criar no Estado e na sociedade a sensibilidade para abrir espaço ao indígena.
NA: Atuando na burocracia do Estado, Darcy se preocupa com a representação que a população brasileira faz do Brasil – e a importância de incluir os indígenas nessa representação. Imagino que, quando encontra seu segundo grande influenciador, Anísio Teixeira, ele tenha feito uma ponte vendo na educação um caminho para que essa sociedade passe a se autorrepresentar mais verdadeiramente.
João Pacheco de Oliveira: Acho que esse é um aspecto importante. Darcy era um apaixonado. Ele se apaixona por Rondon, e depois por Anísio. Tem um texto em que ele diz que Anísio era o brasileiro mais inteligente que já conheceu. Darcy é do superlativo. E se envolve profundamente nas atividades da educação. Mas o impacto dele na antropologia e no indianismo foi muito forte: atuou ao lado de Rondon, atuou no SPI, escreveu os trabalhos que dão consistência teórica e ideológica ao indianismo dos parques – ele é o mentor que dá o suporte a essa perspectiva. Isso ninguém pode tirar dele. Mesmo os militares, no período mais repressivo, não conseguiram. O Estatuto do Índio, por exemplo, foi promulgado em 1973 no governo Médici, utiliza várias categorias de análise de Darcy. Quando lemos o Estatuto, em vários momentos reconhecemos Darcy teorizando sobre o Brasil, estabelecendo classificação de tipos e procedimentos em relação aos indígenas, falando contra abusos de funcionários. Isso é muito nítido, apesar de o SPI ter sido apropriado por algum tempo pelos militares. Darcy deixa resultados muito vivos.
NA: Pode-se afirmar, então, que vem do Parque Nacional do Xingu não só a política, mas a própria noção de território indígena, com tudo o que ela implica, inclusive a preservação do meio ambiente?
João Pacheco de Oliveira: Sim, pode-se dizer que os territórios indígenas são extensões do que era o Parque do Xingu. Alguns menores, outros maiores, mas todos seguem o mesmo modelo: preservar a população autóctone nas condições naturais de vida, preservar o meio ambiente e evitar transtornos climáticos e ecológicos. Essa política foi absolutamente firmada a partir do caso do Xingu, respeitado pela própria ditadura militar. Veja, o instrumento mais forte usado na defesa do território indígena era uma Emenda de 1967 que dizia que os territórios habitados por indígenas não podiam, em qualquer hipótese, ser apropriados ou vendidos – sobre eles não existia posse estabelecida. Para alguns juristas isso era como o parágrafo primeiro do código bolchevique: “acabou a propriedade privada, os donos da terra são os indígenas”…
NA: Nas últimas décadas, Darcy não foi muito estudado nas faculdades. Ele estava fora da bibliografia principal dos cursos de graduação. Isso mudou? Como está hoje o estudo de Darcy na graduação? A gente pode colocar Darcy Ribeiro na mesma prateleira de reconhecimento, por exemplo, de clássicos como Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre?
João Pacheco de Oliveira: Primeiro, a gente tem que lembrar que em 1964 o golpe retirou do Brasil vários intelectuais que pensavam criticamente o país desde os anos 1950. Isso aconteceu na sociologia, na educação, na geografia, na economia etc. Esses professores foram para universidades no exterior. O resultado é que os novos programas de pós-graduação, que começaram a ser implantados a partir da metade dos anos 1960, povoaram suas bibliografias com autores estrangeiros, de pouca importância para as novas gerações. Ficaram de fora não só Darcy Ribeiro, mas também, por exemplo, Josué de Castro, esse geógrafo pouquíssimo conhecido no Brasil mas muito estudado internacionalmente. Para a antropologia veio sobretudo a inspiração francesa relacionada ao estruturalismo, que era moda no momento. Mas ela se chocava umbilicalmente com a visão de Darcy, que não aceitava esse ponto de vista, não considerava essas teorias boas. Darcy tem algumas polêmicas duras pela imprensa com Roberto DaMatta, por exemplo, entre 1979 e 1981. DaMatta chega a dizer que a antropologia de Darcy Ribeiro é do passado e decadente, e que sua teoria tem a ver com o evolucionismo caricatural do século XIX, pré-Malinowski. Por outro lado, grandes autores que trabalharam com Darcy continuaram sendo importantes dentro na universidade. Roberto Cardoso de Oliveira, por exemplo – a grande referência para a antropologia brasileira, assim como Florestan Fernandes para a sociologia – foi sempre uma pessoa da academia. Por uma série de compromissos, inclusive como professor e coordenador, ele jamais se envolvia em ações que poderiam ser avaliadas pelos militares como de conteúdo político. O professor Cardoso tinha muito cuidado em preservar sua obra e fazer que a antropologia continuasse a existir no Brasil naquela circunstância. Não foi o caso de Darcy. Houve uma grande mudança do ponto de vista bibliográfico e Darcy realmente foi pouco lido. Eu comentei isso com colegas mexicanos e eles ficaram muito assustados. Disseram que isso nunca aconteceu no México. “Bom, mas vocês não passaram por uma ditadura por 21 anos”, respondi a eles.
Autores perseguidos pela ditadura eram de difícil inserção. E os programas também queriam trazer novas linhas teóricas, novos temas, autores franceses, ingleses, americanos, que substituíram os grandes autores brasileiros dos anos 1950. Darcy reagiu com enorme mágoa a isso e respondeu de modo muito pesado a Roberto DaMatta, dizendo que os antropólogos brasileiros eram meros repetidores de teorias francesas e aplicadores de conceitos e metodologias concebidas foram da realidade nacional. Ele desvaloriza essa produção científica brasileira, considerando que é de pouco interesse e usa de instrumentos pesados para o ataque: criou a imagem, que circulou muito na época, do “gigolô de índio”: aquela pessoa que tinha interesse apenas acadêmico no indígena, não tinha um compromisso real, um engajamento com a sobrevivência indígena. Foi um erro. Se fosse falar somente do Roberto DaMatta, Darcy estaria certo; mas naquele momento havia grupos de antropólogos no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Acre, na Bahia, no Rio Grande do Sul contra o decreto de emancipação dos índios. Estavam profundamente mobilizados e articulados com os indígenas, mas eram antropólogos mais jovens com os quais Darcy nunca teve contato.
NA: A partir de 1964 Darcy amargou o exílio na América Latina. No exterior sentiu a necessidade de escrever a “antropologia da civilização” dos últimos 10 mil anos. Ele diz que empreendeu esse voo tão amplo – que exige inegável amplitude intelectual e ousadia – para finalmente poder compreender o povo brasileiro…
João Pacheco de Oliveira: Acho que foi um período de adaptação à América Latina. Quem sai do Brasil e vai para o México, para o Peru, sente logo a imensidade de séculos, de milênios de história antes da chegada dos colonizadores. Darcy acaba mexido por isso. Tenho usado Darcy em cursos e os alunos sempre se encantam. Darcy tem um texto, antes do livro Maíra, sobre o indígena Uirá que saiu a procura de deus – é uma descrição fantástica, um exercício de antropologia processual; quer dizer, não existe ali nenhum sentido de sincronia, relaciona tempos históricos largos, cosmologias diversas… Esse tipo de criatividade era também muito presente no trabalho de Florestan Fernandes, que fez uma abordagem sobre indígenas com extraordinária acuidade sem nunca ter ido a campo, porque as informações que ele tinha era que os Tupinambá tinham acabado. Logo, ele não tinha onde procurar. Essa antropologia se perdeu um pouco, essa conexão maior com a força criadora – que era de natureza política, que pensava em criar alternativas para o país, para os índios, para a ciência – acabou se transformando nessa aventura do antropólogo se tornar um especialista em detalhes, sem maior compromisso com o conjunto das coisas. Mas a antropologia não é isso; embora existam trabalhos detalhistas sobre algum aspecto, o antropólogo está tentando entender a totalidade. Exercícios importantes da antropologia não são só aqueles a lá Malinowski – estudar tótens no outro lado do mundo – mas em muitos casos são os de entender processos dentro da sociedade em que você está vivendo, coisas que recuperam o papel do parentesco, o papel das emoções, da cultura, do sangue, uma série de coisas que são muito ricas e estão muito vivas dentro da sociedade e ainda são muito pouco estudadas.
A própria noção brasileira do “mandonismo”, muito trabalhada em certo momento por uma sociologia paulista … teríamos que refletir muito mais sobre isso, entender os profundos determinismos que fazem com que essas categorias sejam tão ou mais essenciais do que categorias racionais, como partido político, como ideologia; sejam categorias que orientam a ação da população de um modo muito forte. As pessoas continuam a ser movidas pela ideia de seguir um líder, alguém que possa ser um orientador, mais que buscar realmente uma ideologia. Há uma personalização da política.
NA: A ideia de democracia racial que o Darcy traz no livro O povo brasileiro hoje costuma ser acompanhada da palavra mito: o “mito da democracia racial”. Essa é uma ideia datada? É preciso entender o contexto em que ele a cunhou? Ou é preciso relativizá-la?
João Pacheco de Oliveira: Acho que essa ideia ainda está muito viva. Ela é sempre recusada, mais ou menos como o racismo – no Brasil ninguém se considera racista, mas conhece alguém que é racista. Esse é o paradoxo: ninguém crê completamente na democracia racial, mas reflete como se o Brasil fosse uma democracia racial. A história do Brasil é toda contada dessa maneira. Fiz há pouco um livro chamado O nascimento do Brasil em que trabalho a ideia da formação do Brasil a partir dos primeiros momentos: a famosa imagem da primeira missa representa totalmente a construção da democracia brasileira. Entram os portugueses e, ao invés de aparecer soldados reprimindo os nativos em volta, aqui há um congraçamento, uma amizade, um amor, com os missionários distribuindo crucifixos para os indígenas, soldados encantados com as índias… Enfim, é o mito da harmonia e o mito da inexistência de conflito. Isso faz parte de um processo de dominação muito pesado. O Brasil de 2019 para cá teve uma virtude: escancarou para toda a sociedade o quanto o brasileiro é racista, o quanto o brasileiro é autoritário, o quanto agradam a ele atitudes absolutamente repelentes que, alguns anos antes, não se podia imaginar fossem acatadas por pessoas que tinham alguma formação. Afirmações racistas pesadas em relação ao indígena, ao quilombola, ao lugar da mulher na sociedade. Fiquei muito feliz em ter escrito esse livro em 2016, de certa maneira identificando na sociedade brasileira uma série de manifestações de um racismo extremo e uma recusa de qualquer cidadania em relação a pessoas de outra cor, outra condição social, outro gênero. Em uma perspectiva passar a limpo, é importante começar a entender os processos da história real do país. Coloquei na abertura do livro uma imagem do Debret em que índias são capturadas e levadas por soldados. É uma cena terrível! Certamente Debret não assistiu a isso, mas reelaborou de forma impressionante.
É um país constituído dentro da repressão a mais absoluta e até as relações intrafamiliares são marcadas pela violência. Em grande parte das áreas rurais do Brasil as avós são ditas como indígenas e descritas como “índias pegas no laço” ou “apanhadas a dente de cachorro”. A família brasileira é composta a partir de um processo como esse, mas não é assim que é apresentada, a família se autorrepresenta de um modo totalmente diverso. Certamente a pobre índia capturada também vai se apresentar de outra maneira, e vai ser ela mesma um instrumento de preconceito, de autoritarismo, de racismo. A história brasileira está marcada pela intolerância, pela violência. Veja a tranquilidade com que o brasileiro reage quanto à impunidade de crimes. Quando estou na França, por exemplo, me surpreende a atitude republicana das pessoas: cada tem seus direitos, existem os ricos e os pobres, mas as pessoas têm direitos, ninguém questiona isso. No nosso caso, da classe média para cima existem direitos, mas para o grosso da população, não. Só se tem possibilidade de, digamos, escapar do torvelinho da violência e da opressão individualmente.
É muito oportuno continuar falando contra a democracia racial brasileira e mostrar quanto ela acoberta de aspectos violentos e pensar o que precisa ser corrigido. Não há dúvida de que racismo não pode ser corrigido apenas através de livros ou de filmes. Ele tem que ser corrigido a partir de processos educacionais nas escolas, através de punições. Quantas pessoas no Brasil são punidas pelo crime de racismo? É impressionante, mas não existe isso. É uma sociedade baseada na hipocrisia. No caso dos indígenas, Rondon cunhou a frase “morrer se preciso for, matar nunca. O Exército brasileiro nunca combateu os indígenas, não capturou, não matou, não tomou terras de índios. Mas a história revela não foi o Estado diretamente por sua mão que fez isso, mas sua conivência com as ações de particulares, que tiveram a mesma consequência. Toda a ocupação de grande parte da Floresta Amazônica por causa da borracha, no século XIX, está coalhada de eventos violentos. Nos jornais de Manaus saíam notícias de 14, 20 indígenas mortos diariamente – e nunca houve qualquer sensibilidade para apurar o que acontecia. As autoridades militares pensaram somente na importância da expansão da borracha. No Sul do Brasil houve outra ação de violência muito grande: o povo Kaingang, um povo enorme que vivia nas terras desde São Paulo até o Rio Grande do Sul, foi dividido, ilhado por uma série de colônias europeias. Uma história muito dura, mas pouquíssimo conhecida.
As pessoas imaginam que os índios desapareceram como na pintura do Victor Meirelles: estavam ali assistindo, depois voltaram e morreram lá pela floresta e acabou. Não foi assim, os índios estão em todas as partes do Brasil. É por isso que as pessoas têm uma visão tão superficial da Amazônia: porque refletem de um modo equivocado para entender que a violência está ali, é fato corrente, que não se iniciou hoje mas vem de séculos. Não é só a violência da grande empresa, é a violência do garimpeiro, dos pequenos patrões, dos posseiros – todos eles se sentem superiores, com autoridade para matar índio, é um processo muito pesado. Para pensar a democracia brasileira, ainda temos que purgar essa nossa ideia da democracia racial. O Brasil se defende com hilaridade, com piadas etc… Mas o que a gente vê nos jornais, nas periferias das grandes cidades, nas favelas, nas prisões etc. é que existe um direcionamento da atividade punitiva e repressiva completamente dirigida contra a população etnicamente marcada – negros, indígenas, pardos etc. A gente precisa fazer um exercício mais sério para mudar essa visão do país.
NA: Na obra A América Latina existe? Darcy nos compara a um conjunto de ilhas que não se comunicam. Essa realidade continua atual? Como o Brasil se relaciona com seus vizinhos, já que temos povos originários em toda a América Latina? O senhor falou do México, a Bolívia é um estado que agora se define como plurinacional, o Equador…
João Pacheco de Oliveira: O contexto atual é muito diferente do contexto em que Darcy atuou. Hoje você tem uma quantidade muito grande de latino-americanos – bolivianos, paraguaios, argentinos, venezuelanos – vivendo em certas áreas do Brasil e existem muitos brasileiros morando no Paraguai etc. Com o deslocamento das populações essas fronteiras estão, de certo modo, se esboroando. Por outro lado, existem também novas ligações por meio das tecnologias de comunicação: tem havido muita troca, criação de redes, especialmente culturais e artísticas, que tem envolvido setores mais jovens dos países, movimentos sociais também. Acho que estamos saindo um pouco disso. Acho que a nossa tendência de olhar para o outro lado do Atlântico ou para o hemisfério norte (os EUA) está mais diluída.
Em termos das políticas, acho que a política brasileira é bastante avançada em termos da definição dos territórios. A Constituição de 1988 não toca na plurinacionalidade, não foi sequer cogitado – considerava-se um tema que logo causaria problemas. Mas o território é pensado de um modo muito livre e criativo, como um espaço político que pode abrigar uma diversidade muito forte e desenvolver uma relativa autonomia. Mas em muitos outros aspectos, as coisas no Brasil estão muito atrasadas. Por exemplo, o reconhecimento das línguas indígenas como línguas que podem ser faladas. Existem alguns municípios no Brasil que já reconheceram o uso de línguas indígenas, São Gabriel da Cachoeira é um. Na minha área de pesquisa, região do Alto Solimões, onde mais de 30% da população rural do município é indígena, até hoje não houve um reconhecimento em relação à língua indígena.
Um aspecto mais dramático é a própria consciência do brasileiro. O brasileiro continua vendo a questão indígena no Brasil de um modo muito limitado, porque a presença indígena foi apagada da nossa história. A dificuldade para o brasileiro é começar a pensar e entender o Brasil em que vive, por que a questão indígena é importante no Brasil de hoje. Por que, num discurso nas Nações Unidas, um presidente recém-eleito fala tão prolongadamente a respeito de um chefe indígena chamado Raoni? Parece uma figura que ameaça a ele no governo. Por que isso?
Não temos uma compreensão razoável da importância da presença do indígena na vida política e econômica do país, por isso estamos sempre pensando neles como meia dúzia de pessoas que precisam ser tratadas no modo humanitário. Essa foi a tônica da ideologia no momento do Darcy, mas isso é impossível hoje. Hoje não é mais o Estado que frequentemente defendia o indígena. Em grande parte da nação o Estado está agindo contra o indígena, por meio de hidrelétricas, de estradas, de concessões de terra. O Estado não é mais o que Darcy conceituava, uma força benéfica pelo desenvolvimento da nação e da cidadania. Já virou um instrumento de violência, de expropriação da população. Por isso, é preciso pensar o Brasil de outra maneira. Acho que o indígena brasileiro acabou sendo sinônimo daquele que era no passado: muito bravo, que não aceita o catecismo, que vive rebelde, despido dentro da sua comunidade. Mas não é isso. O índio americano se apresenta de terno e gravata nos birôs, nas músicas, ele é um cidadão normal a todo momento. Criamos essa exotização da presença indígena, que impede a gente de entender como o país está montado, dos interesses que movem o próprio país. O grande exercício a se fazer no Brasil é repensar essa história indígena. Repensar o nosso passado indígena e o nosso presente indígena. Não é nos assumirmos indígenas e, em algum momento, colocar na rede social “eu sou guarani-kaiowá”. Não é isso. É compreender que temos conexões com a formação desse país, na qual a presença indígena está completamente imbricada. Ela foi apagada, mas um pequeno exercício de enxergar dentro das famílias, nas lembranças, nós vamos encontrar sinais muito evidentes disso. Precisamos repensar. O Antonio Callado tem um livro muito bonito, A Expedição Montaigne, em que um indígena do Xingu faz uma expedição para trazer de volta índios dominados pela civilização. E usa a ideia de que é preciso enfiar a presença indígena pelas veias brasileiras – como se fosse uma pororoca – para que eles possam realmente compreender o país que existe. Acho que a imagem do Antonio Callado é muito forte. É isso. Nós precisamos de uma pororoca indígena dentro das nossas veias, dentro das nossas cabeças, para conseguir enxergar o Brasil de hoje. Os indígenas podem nos ajudar nesse sentido.
Por Equipe CBEAL