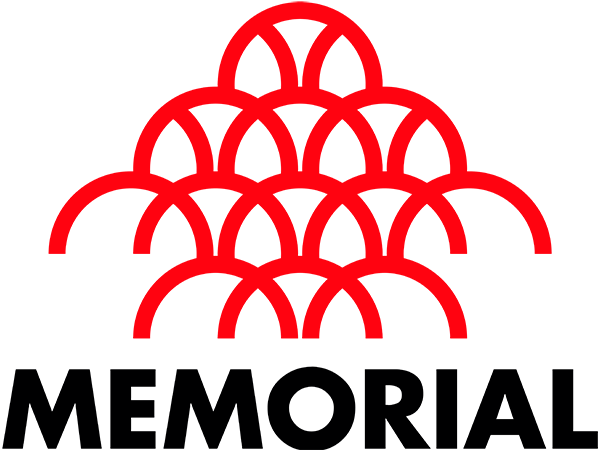
 Em 2016 um dos temas a ser abordado pela Fundação Memorial da América Latina será a diversidade linguística da América Latina, que vai muito além do português, espanhol e francês, línguas dos colonizadores. Só no Brasil, por exemplo, calcula-se que se mantém vivas 180 línguas indígenas, mas esse número varia segundo o critério adotado. Em muitos casos, seus falantes se estendem por países fronteiriços da Amazônia e do Cone Sul. “Queremos dar uma força para essa discussão a respeito das línguas nativas da América Latina”, anunciou Marília Franco, expressando a vontade dela e de João Batista de Andrade, presidente do Memorial. Como diretora do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina (CBEAL), a professora Marília Franco abriu o seminário “Identidade Cultural e Patrimônio Linguístico dos Povos Originários da América Latina”, realizado na biblioteca do Memorial no sábado, 5 de dezembro de 2015.
Em 2016 um dos temas a ser abordado pela Fundação Memorial da América Latina será a diversidade linguística da América Latina, que vai muito além do português, espanhol e francês, línguas dos colonizadores. Só no Brasil, por exemplo, calcula-se que se mantém vivas 180 línguas indígenas, mas esse número varia segundo o critério adotado. Em muitos casos, seus falantes se estendem por países fronteiriços da Amazônia e do Cone Sul. “Queremos dar uma força para essa discussão a respeito das línguas nativas da América Latina”, anunciou Marília Franco, expressando a vontade dela e de João Batista de Andrade, presidente do Memorial. Como diretora do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina (CBEAL), a professora Marília Franco abriu o seminário “Identidade Cultural e Patrimônio Linguístico dos Povos Originários da América Latina”, realizado na biblioteca do Memorial no sábado, 5 de dezembro de 2015. Organizado pelo Centro de Apoio Comunitário Inti Wasi e apoiado pelo Consulado Geral do Peru, o seminário teve as palavras iniciais de Arturo Jamara, Cônsul Geral do Peru em São Paulo, após a exibição do documentário “Los Quechua en el Perú”. Ele contou que no processo revolucionário nacionalista de esquerda liderado pelo general Velasco Alvarado, entre 1968 e 1975, o seu país tentou implantar o uso oficial do quíchua como medida revolucionária. Mas não deu certo e até hoje esse é um processo inacabado. Arturo Jamara lembrou que o Peru enfrentou um sangrento conflito interno armado (contra o grupo revolucionário maoista Sendero Luminoso), cuja maioria das vítimas tinha como língua originária justamente o quíchua, falado por cerca de 3 milhões de pessoas atualmente no Peru (no total, são mais de 8 milhões falantes de quíchua, contando principalmente os bolivianos e equatorianos, além dos argentinos). Somente agora o ensino em quíchua foi aprovado no país inteiro.
Organizado pelo Centro de Apoio Comunitário Inti Wasi e apoiado pelo Consulado Geral do Peru, o seminário teve as palavras iniciais de Arturo Jamara, Cônsul Geral do Peru em São Paulo, após a exibição do documentário “Los Quechua en el Perú”. Ele contou que no processo revolucionário nacionalista de esquerda liderado pelo general Velasco Alvarado, entre 1968 e 1975, o seu país tentou implantar o uso oficial do quíchua como medida revolucionária. Mas não deu certo e até hoje esse é um processo inacabado. Arturo Jamara lembrou que o Peru enfrentou um sangrento conflito interno armado (contra o grupo revolucionário maoista Sendero Luminoso), cuja maioria das vítimas tinha como língua originária justamente o quíchua, falado por cerca de 3 milhões de pessoas atualmente no Peru (no total, são mais de 8 milhões falantes de quíchua, contando principalmente os bolivianos e equatorianos, além dos argentinos). Somente agora o ensino em quíchua foi aprovado no país inteiro.
 A socióloga peruana e doutora em geografia humana radicada em São Paulo Carmen Soledad Auraro de Watson é a coordenadora do Centro de Apoio Comunitário Inti Wasi. Ela fez uma espécie de radiografia nas escolas públicas de bairros centrais de São Paulo e identificou os filhos de imigrantes. A EMEI João Theodoro, situada na rua Ribeiro de Lima, no Bom Retiro, por exemplo, tem 50% de alunos hispano falantes (muitos deles quíchua falantes). Como essas crianças se relacionam com o ambiente social maior? Carmen Watson até nos informa sobre um fenômeno tipicamente paraguaio que repercuti por essas paragens: são os falantes do chiriguaio, uma espécie de portunhol formado pela mistura do guarani e o espanhol! Como expressou o presidente do Memorial, João Batista de Andrade, esse seminário foi o “ápice de um ano no Memorial rico em eventos que falam diretamente à alma latino-americana, como as discussões da Cátedra Unesco Memorial sobre imigrantes e deslocados contemporâneos”.
A socióloga peruana e doutora em geografia humana radicada em São Paulo Carmen Soledad Auraro de Watson é a coordenadora do Centro de Apoio Comunitário Inti Wasi. Ela fez uma espécie de radiografia nas escolas públicas de bairros centrais de São Paulo e identificou os filhos de imigrantes. A EMEI João Theodoro, situada na rua Ribeiro de Lima, no Bom Retiro, por exemplo, tem 50% de alunos hispano falantes (muitos deles quíchua falantes). Como essas crianças se relacionam com o ambiente social maior? Carmen Watson até nos informa sobre um fenômeno tipicamente paraguaio que repercuti por essas paragens: são os falantes do chiriguaio, uma espécie de portunhol formado pela mistura do guarani e o espanhol! Como expressou o presidente do Memorial, João Batista de Andrade, esse seminário foi o “ápice de um ano no Memorial rico em eventos que falam diretamente à alma latino-americana, como as discussões da Cátedra Unesco Memorial sobre imigrantes e deslocados contemporâneos”.
 Tendo à frente essa espécie de organização de autodefesa dos imigrantes, denominada Centro de Apoio Comunitário Inti Wasi, o seminário cuidou sob diversos ângulos da questão das línguas faladas pelos povos da região antes da dominação europeia. Um depoimento tocante foi o de Luar Sateré-Mawé, da etnia amazônica Sateré-Mawé, cuja aldeia dista três dias de barco de Manaus. No passado, seu povo domesticou o guaraná e extraiu da fruta o líquido que tanto faz sucesso. Luar falou da solidão ao chegar a São Paulo, faz seis anos, para estudar e ser aceito como professor em sua aldeia. Antes de encontrar um rumo trabalhou como garçom. Vira e meche era tomado por boliviano. Embora poliglota, ficava sempre calado nessa terra estranha. “Falo seis línguas indígenas e o português. Em São Paulo no início minha dificuldade era não só não conhecer o código linguístico, falar uma língua diferente – as pessoas tinham a cabeça e os sentimentos diferentes. Encontrei muita dificuldade, mas o que me protegia era minha identidade”. Alfabetizado em um mosteiro de irmãs franciscanas na Amazônia, Luar domina o português culto e está se formando em Direito na PUC de São Paulo. Depois vai ver como ajudar diretamente sua gente.
Tendo à frente essa espécie de organização de autodefesa dos imigrantes, denominada Centro de Apoio Comunitário Inti Wasi, o seminário cuidou sob diversos ângulos da questão das línguas faladas pelos povos da região antes da dominação europeia. Um depoimento tocante foi o de Luar Sateré-Mawé, da etnia amazônica Sateré-Mawé, cuja aldeia dista três dias de barco de Manaus. No passado, seu povo domesticou o guaraná e extraiu da fruta o líquido que tanto faz sucesso. Luar falou da solidão ao chegar a São Paulo, faz seis anos, para estudar e ser aceito como professor em sua aldeia. Antes de encontrar um rumo trabalhou como garçom. Vira e meche era tomado por boliviano. Embora poliglota, ficava sempre calado nessa terra estranha. “Falo seis línguas indígenas e o português. Em São Paulo no início minha dificuldade era não só não conhecer o código linguístico, falar uma língua diferente – as pessoas tinham a cabeça e os sentimentos diferentes. Encontrei muita dificuldade, mas o que me protegia era minha identidade”. Alfabetizado em um mosteiro de irmãs franciscanas na Amazônia, Luar domina o português culto e está se formando em Direito na PUC de São Paulo. Depois vai ver como ajudar diretamente sua gente.
 O professor americano Jordi Ferre contou que mora há sete anos em uma aldeia guarani no sul da cidade de São Paulo. Ele é o fundador do Centro de Estudos de Idiomas e Culturas Tradicionais, conhecido por Sala Sequoia, no bairro de Pinheiros, São Paulo. “Nasci nos EUA mas fui criado na Catalunha. Já de cara tive contato com três línguas”, diz. Hoje ele prepara o material didático em guarani usado nas escolas indígenas do estado de São Paulo. É também professor de quíchua. “Fui muito bem acolhido pelos guaranis. Para o ocidental é muito difícil valorizar a cultura indígena, porque a gente é tido desde criança como consumidor ou como alguém que vai produzir. Por isso a gente não consegue enxergar a beleza do mundo indígena, entrar em seu tempo, perceber o enorme cuidado na formação de seus filhos. A índia grávida, por exemplo, se concentra para receber em seus sonhos o espírito da criança para não errar seu nome…”
O professor americano Jordi Ferre contou que mora há sete anos em uma aldeia guarani no sul da cidade de São Paulo. Ele é o fundador do Centro de Estudos de Idiomas e Culturas Tradicionais, conhecido por Sala Sequoia, no bairro de Pinheiros, São Paulo. “Nasci nos EUA mas fui criado na Catalunha. Já de cara tive contato com três línguas”, diz. Hoje ele prepara o material didático em guarani usado nas escolas indígenas do estado de São Paulo. É também professor de quíchua. “Fui muito bem acolhido pelos guaranis. Para o ocidental é muito difícil valorizar a cultura indígena, porque a gente é tido desde criança como consumidor ou como alguém que vai produzir. Por isso a gente não consegue enxergar a beleza do mundo indígena, entrar em seu tempo, perceber o enorme cuidado na formação de seus filhos. A índia grávida, por exemplo, se concentra para receber em seus sonhos o espírito da criança para não errar seu nome…”
Um indígena vem do Amazonas para se tornar advogado de seu povo, um americano poliglota ensina guarani e quíchua no bairro de Pinheiros – São Paulo é mesmo uma cidade cosmopolita, na qual convive uma diversidade insuspeita de culturas. Há os latino-americanos que aqui vivem, ao lado de africanos recém-chegados, haitianos e seu créole , sírios deslocados pela guerra… Todos aqui e agora enfrentando a dura realidade paulistana. Segundo a professora Maria Tereza Celada, coordenadora da área de espanhol do Centro de Línguas das USP, a maioria se depara com a invisibilidade social – são como que apagados em um processo de exclusão social que produz sofrimento e deixa marcas na memória afetiva. “A noção de que temos uma só nação e uma só língua é produzida pela máquina do estado – de qualquer estado. Os estados nacionais são impermeáveis à língua dos outros”, explica Celada, argentina de nascimento, criada e formada no Brasil, com pós-doutorado em linguística pela Universidade de Buenos Aires. Basta pensar que, quando os europeus aqui chegaram, há pouco mais de 500 anos, calcula-se que eram faladas cerca de 1000 línguas no território que hoje é chamado de Brasil.
 “Quando se é estrangeiro se está fora do consabido, a gente não entende as brincadeiras e cada vez que abrimos a boca, leva não a uma resposta, mas a uma pergunta (donde você é?), o sotaque interrompe a cena”. A professora Celada está preocupada com os hispano-americanos no Brasil. Por exemplos, os bolivianos. Há bairros em São Paulo, como o Bom Retiro e o Pari, cujas escolas públicas tem quase a metade de alunos bolivianos. “Segundo os professores, eles são calados, prestam atenção nas aulas, mas têm pouca interação. Seus pais são presentes na escola, fazem atividades juntos com seus filhos, impõem rotina de estudos em casa…”, mas mesmo assim, as crianças bolivianas tem dificuldades nas escolas porque os próprios professores brasileiros tem que gastar mais tempo, energia e atenção com os brasileiros, muito mais bagunceiros. “Há uma espécie de clausura linguística na escola, que se torna um espaço de sofrimento de alunos e de professores. Se nos lembrarmos que muitos desses bolivianos já são marcados por uma memória da exclusão, por sua língua nativa ser o quíchua ou o aymará e não o espanhol…”
“Quando se é estrangeiro se está fora do consabido, a gente não entende as brincadeiras e cada vez que abrimos a boca, leva não a uma resposta, mas a uma pergunta (donde você é?), o sotaque interrompe a cena”. A professora Celada está preocupada com os hispano-americanos no Brasil. Por exemplos, os bolivianos. Há bairros em São Paulo, como o Bom Retiro e o Pari, cujas escolas públicas tem quase a metade de alunos bolivianos. “Segundo os professores, eles são calados, prestam atenção nas aulas, mas têm pouca interação. Seus pais são presentes na escola, fazem atividades juntos com seus filhos, impõem rotina de estudos em casa…”, mas mesmo assim, as crianças bolivianas tem dificuldades nas escolas porque os próprios professores brasileiros tem que gastar mais tempo, energia e atenção com os brasileiros, muito mais bagunceiros. “Há uma espécie de clausura linguística na escola, que se torna um espaço de sofrimento de alunos e de professores. Se nos lembrarmos que muitos desses bolivianos já são marcados por uma memória da exclusão, por sua língua nativa ser o quíchua ou o aymará e não o espanhol…”
 O seminário “Identidade Cultural e Patrimônio Linguístico dos Povos Originários da América Latina” contou com uma apresentação dos dilemas legais contemporâneos feita pelo procurador do Estado de São Paulo Emanuel Fonseca Lima. Sob o título “A proteção jurídica do patrimônio linguístico dos povos originários”, o dr. Fonseca Lima, que é especialista em Direito Ambiental, expressou “a preocupação com a garantia da identidade dos grupos minoritários e com a preservação da diversidade cultural e dos direitos humanos.” Atualmente, ele está organizando um livro sobre o tema “Identidade e Diversidade Cultural na América Latina”, com a participação de pesquisadores do Brasil, Costa Rica, Colômbia, México, Peru, Argentina, Cuba e Equador. O projeto interdisciplinar abrange áreas como o Direito, Pedagogia, Antropologia e Sociologia.
O seminário “Identidade Cultural e Patrimônio Linguístico dos Povos Originários da América Latina” contou com uma apresentação dos dilemas legais contemporâneos feita pelo procurador do Estado de São Paulo Emanuel Fonseca Lima. Sob o título “A proteção jurídica do patrimônio linguístico dos povos originários”, o dr. Fonseca Lima, que é especialista em Direito Ambiental, expressou “a preocupação com a garantia da identidade dos grupos minoritários e com a preservação da diversidade cultural e dos direitos humanos.” Atualmente, ele está organizando um livro sobre o tema “Identidade e Diversidade Cultural na América Latina”, com a participação de pesquisadores do Brasil, Costa Rica, Colômbia, México, Peru, Argentina, Cuba e Equador. O projeto interdisciplinar abrange áreas como o Direito, Pedagogia, Antropologia e Sociologia.
 Um pouco distante das questões específicas dos imigrantes e dos ameríndios, o professor Pablo Castanho, do Departamento de Psicologia Clínica da USP, olhou para os aspectos subjetivos da diversidade linguística. Ele iniciou denunciando o “mito da terra vazia” subjacente ao próprio termo “América Latina”. A expressão América Latina é uma referência direta às línguas neolatinas faladas no continente “que deixa na sombra tudo o que existia antes”, incluindo mais de mil idiomas completos, com sua visão de mundo. Castanho colocou em perspectiva o próprio seminário, que trata como patrimônio as “línguas originais”: “em nossa narrativa pessoal, procuramos a “origem” que nos dê sustentação psíquica”, pois a língua também é “para nos comunicar com nós mesmos, uma construção social que está em nós”. “Originário” é um termo importante para a psicanálise, pois entende que “como em qualquer história, nossa narrativa tem que ter um começo, o primeiro parágrafo da nossa própria história. Mas talvez não seja da ordem do mundo ter um começo e um final – mas estamos condenados a procurar uma resposta.” Daí, o mito, inalcançável pela razão, já que a questão humana é antes de tudo psíquica.
Um pouco distante das questões específicas dos imigrantes e dos ameríndios, o professor Pablo Castanho, do Departamento de Psicologia Clínica da USP, olhou para os aspectos subjetivos da diversidade linguística. Ele iniciou denunciando o “mito da terra vazia” subjacente ao próprio termo “América Latina”. A expressão América Latina é uma referência direta às línguas neolatinas faladas no continente “que deixa na sombra tudo o que existia antes”, incluindo mais de mil idiomas completos, com sua visão de mundo. Castanho colocou em perspectiva o próprio seminário, que trata como patrimônio as “línguas originais”: “em nossa narrativa pessoal, procuramos a “origem” que nos dê sustentação psíquica”, pois a língua também é “para nos comunicar com nós mesmos, uma construção social que está em nós”. “Originário” é um termo importante para a psicanálise, pois entende que “como em qualquer história, nossa narrativa tem que ter um começo, o primeiro parágrafo da nossa própria história. Mas talvez não seja da ordem do mundo ter um começo e um final – mas estamos condenados a procurar uma resposta.” Daí, o mito, inalcançável pela razão, já que a questão humana é antes de tudo psíquica.
Para Lacan, a psicanálise está preocupada não tanto com as variantes linguísticas, mas principalmente com o que há de comum em todas as línguas que estrutura o psiquismo. A isso se chega através da fala de cada indivíduo. E da fala nativa, não por meio de uma segunda língua. Em sua experiência clínica com estrangeiros Pablo Castanho garante que “quando se começa a lembrar em uma língua nativa essa lembrança vem com muito mais afeto, com um tipo de energia psíquica capaz de acionar mecanismos os mais profundos”.
 Segundo a professora Maria Tereza Celada, temos muito a fazer: “Sim, precisamos dar continuidade às línguas originárias, mas apenas oficializá-las não basta. Precisamos lutar pela continuidade delas. Mas precisamos também conhecer as variedades do espanhol atravessadas por essas formas de falar ancestrais. Por aqui, precisamos com urgência trabalhar com as famílias dos imigrantes, oferecendo cursos de português para os pais e formação de professores para trabalhar a integração das suas crianças.” Como são línguas vivas, estão sujeitas a mudanças. O antropólogo Flávio Bassi mostrou como esse é um processo dinâmico com uma provocação ao questionar a própria ideia de se patrimonizar algo como uma língua. “Para se fazer isso é preciso compartimentalizar a cultura em pedaços. Por mais que seja verdade que a língua é importante, ela é um elemento, é parte e não o todo. A cultura é dinâmica e sempre esteve em interação com povos vizinhos e vice versa”.
Segundo a professora Maria Tereza Celada, temos muito a fazer: “Sim, precisamos dar continuidade às línguas originárias, mas apenas oficializá-las não basta. Precisamos lutar pela continuidade delas. Mas precisamos também conhecer as variedades do espanhol atravessadas por essas formas de falar ancestrais. Por aqui, precisamos com urgência trabalhar com as famílias dos imigrantes, oferecendo cursos de português para os pais e formação de professores para trabalhar a integração das suas crianças.” Como são línguas vivas, estão sujeitas a mudanças. O antropólogo Flávio Bassi mostrou como esse é um processo dinâmico com uma provocação ao questionar a própria ideia de se patrimonizar algo como uma língua. “Para se fazer isso é preciso compartimentalizar a cultura em pedaços. Por mais que seja verdade que a língua é importante, ela é um elemento, é parte e não o todo. A cultura é dinâmica e sempre esteve em interação com povos vizinhos e vice versa”.
 Para Flávio Bassi dizer que “é preciso ter uma política cultural para os índios” já é em si problemático, pois é diferente da expressão “política cultural dos índios”, por assim dizer, que garante a autonomia. “Eles têm a sua própria estratégia, que faz circular e continuar sua unidade cultural e a vai transformando”. Bassi cita o exemplo de um grupo de hip hop de Dourados, MS, o Brô MC´S, formado por jovens indígenas das aldeias Jaguaripu e Bororo. Desde 2009 eles vem se apresentando e cantando músicas cujas letras misturam o guarani, seu idioma nativo, o português, língua da cultura envolvente, e até o inglês, língua da tecnologia e da cultura pop de massa. “O discurso do desalento… vamos “re” tudo, recuperar, revitalizar é importante, mas ninguém faz circular um saber sozinho – iríamos desanimar.” Talvez o mais importante agora seja – sem menosprezar o valor de se preservar o patrimônio linguístico das línguas originárias – se perguntar como estão vivendo os falantes dessas línguas – eles estão bem? como podemos apoiá-los? – e perceber, arrazoa Bassi, que há vários regimes e formas de gerar e circular o conhecimento na diversidade brasileira.
Para Flávio Bassi dizer que “é preciso ter uma política cultural para os índios” já é em si problemático, pois é diferente da expressão “política cultural dos índios”, por assim dizer, que garante a autonomia. “Eles têm a sua própria estratégia, que faz circular e continuar sua unidade cultural e a vai transformando”. Bassi cita o exemplo de um grupo de hip hop de Dourados, MS, o Brô MC´S, formado por jovens indígenas das aldeias Jaguaripu e Bororo. Desde 2009 eles vem se apresentando e cantando músicas cujas letras misturam o guarani, seu idioma nativo, o português, língua da cultura envolvente, e até o inglês, língua da tecnologia e da cultura pop de massa. “O discurso do desalento… vamos “re” tudo, recuperar, revitalizar é importante, mas ninguém faz circular um saber sozinho – iríamos desanimar.” Talvez o mais importante agora seja – sem menosprezar o valor de se preservar o patrimônio linguístico das línguas originárias – se perguntar como estão vivendo os falantes dessas línguas – eles estão bem? como podemos apoiá-los? – e perceber, arrazoa Bassi, que há vários regimes e formas de gerar e circular o conhecimento na diversidade brasileira.
 O seminário “Identidade Cultural e Patrimônio Linguístico dos Povos Originários da América Latina” foi encerrado com apresentações artísticas dos grupos folclóricos andinos Tinkus Jairas, da Bolívia, e Sicuris Qhantati Ururi, do Peru, formados por emigrantes que escolheram São Paulo para viver e fazem questão de enriquecer o ambiente cultural que bem ou mal os acolheu.
O seminário “Identidade Cultural e Patrimônio Linguístico dos Povos Originários da América Latina” foi encerrado com apresentações artísticas dos grupos folclóricos andinos Tinkus Jairas, da Bolívia, e Sicuris Qhantati Ururi, do Peru, formados por emigrantes que escolheram São Paulo para viver e fazem questão de enriquecer o ambiente cultural que bem ou mal os acolheu.