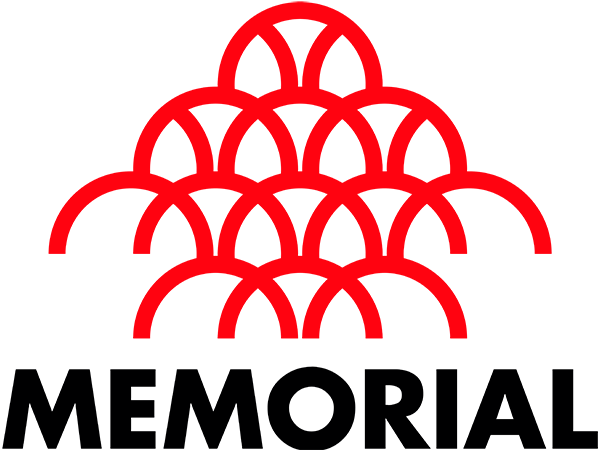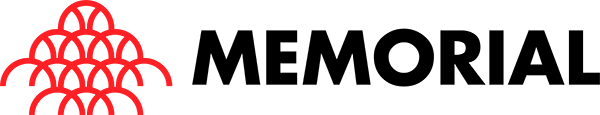COLUNA

Por Pedro Machado Mastrobuono
Presidente da Fundação Memorial da América Latina
Pós-doutor em Antropologia Social; Doutor em proteção ao Patrimônio Cultural; Advogado especializado em direitos autorais; e Ex-presidente do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)
Presença negra como epistemologia: diáspora, museus e o futuro da memória
No artigo “As vozes que fundaram o silêncio”, procurei mostrar que os apagamentos da presença africana, tanto no campo museológico quanto no literário, não são acidentes da história, mas estratégias estruturais que sustentam um modelo de organização simbólica profundamente eurocêntrico. A repercussão daquele texto e, sobretudo, as reações sensíveis de diversos leitores espontâneos, culminando no atento comentário de Ana Maria Bernardelli, indicam que o debate precisa avançar.
Na condição de membro efetivo do Conselho Internacional de Museus (Icom), acompanho de perto o modo como a museologia contemporânea tem iniciado um necessário processo de inflexão, e em diversas partes do mundo, práticas curatoriais, narrativas expositivas e metodologias colaborativas vêm deslocando o olhar para reconhecer a diáspora africana não como um vestígio do passado, mas como fundamento vivo, capaz de reconfigurar categorias de memória, autoria e identidade. É nesse horizonte, onde antropologia e museologia se encontram, que este ensaio se inscreve.
A vitrine museológica e a página literária nasceram sob a mesma lógica de administração da diferença, ambas foram concebidas como dispositivos de ordenamento, classificação e controle, capazes de transformar mundos vivos em objetos interpretáveis a partir de um centro de enunciação europeu. Na museologia, essa lógica se manifesta na construção de um olhar que tolera a presença africana apenas quando ela se ajusta a categorias folclorizantes ou exóticas, mantendo-a à margem de qualquer capacidade de formulação ética ou epistemológica.
Na literatura, a mesma operação produz um cânone que se estrutura a partir da exclusão de vozes negras como realizadoras de linguagem, relegando-as à condição de testemunhas ou personagens. Essa operação é precisamente o que Aníbal Quijano definiu como colonialidade do poder, um sistema que não apenas domina, mas produz categorias de compreensão capazes de manter a diferença sob controle. Esse sistema opera na legenda do museu e na nota de rodapé, transformando a presença africana em objeto de memória e interditando sua condição de sujeito criador. É justamente contra esse dispositivo que a museologia contemporânea, em diálogo com os estudos decoloniais, vem reformulando suas práticas.
O movimento de decolonização dos museus, impulsionado pelo ICOM e discutido amplamente em fóruns internacionais, vem deslocando o eixo da narrativa, deixando de legitimar um passado filtrado para construir um espaço de restituição, de escuta e de coautoria. Esse processo, que se manifesta de forma exemplar nas experiências da Community Archaeology of the African Diaspora e nos trabalhos do ICOFOM sobre museologia crítica, reforça uma ideia central: a diáspora não pode mais ser pensada como uma extensão periférica, mas como uma matriz originária, a partir da qual se devem reinterpretar os próprios fundamentos do museu e da crítica literária, passando-se, assim, do objeto exposto à presença reivindicada, da vitrine silenciosa à narrativa partilhada, e do passado congelado à continuidade viva de saberes.
A virada epistemológica em curso não se limita à revisão dos discursos, ela também altera as formas como o museu se constitui enquanto espaço. Exemplos como o recém-criado Musée de l’Art de la Diaspora Africaine (MOWAA), em Benin City, Nigéria, mostram que está em avanço um modelo de instituição patrimonial pensado a partir do próprio continente africano, com laboratórios de restituição, acervos climatizados e espaços performativos destinados à transmissão de saberes comunitários. Não se trata simplesmente de repatriar objetos, mas de reorganizar o próprio dispositivo museal com base em epistemologias afro-diaspóricas e de reconhecer que memória e futuro se constroem no mesmo gesto.
Essa inflexão também se traduz em experiências descentralizadas, como os museus móveis e os projetos idealizados por Nana Oforiatta Ayim, cujo trabalho em Gana propõe uma museologia que abandona a fixidez espacial e abraça a estrutura das redes, dos percursos itinerantes e das narrativas orais. Nesse modelo, o museu deixa de ser um edifício institucional e passa a ser um fluxo de saberes, que se atualiza a cada encontro. O princípio que sustenta essas iniciativas é claro, não se trata de incluir a diáspora dentro do cânone existente, mas de reconfigurar o cânone a partir dela. A mesma perspectiva pode ser observada nas grandes exposições internacionais, Afro-Atlantic Histories (National Gallery, Washington) e When We See Us (Zeitz MOCAA, Cidade do Cabo, Gegenwart Museum, Basileia), que deslocam o eixo interpretativo ao apresentar a diáspora africana como uma constelação transnacional, que ultrapassa fronteiras coloniais para afirmar continuidades culturais, espirituais e políticas. Nessas mostras, o visitante não contempla um passado distante, mas se vê confrontado com as formas contemporâneas de resistência e imaginação negra.

Exposição Afro-Atlantic Histories, na National Gallery, em Washington.
Foto: Divulgação/National Gallery of Art
Se a decolonização do museu exige uma reorganização das vitrines e dos discursos, ela demanda também novas formas de experiência. Nos últimos anos, instituições internacionais têm recorrido a práticas imersivas, frequentemente associadas a tecnologias de realidade mista, para criar ambientes em que o visitante deixa de ser mero observador e passa a assumir o papel de agente participante de uma história interrompida. Um exemplo paradigmático é o desenvolvimento de exposições que utilizam performances sonoras e ambientes projetados para reconstruir narrativas ocultadas da escravidão, permitindo que o público atravesse corporalmente um território de memória e compreenda, sensivelmente, aquilo que não está escrito nas etiquetas.
Não são apenas os museus que vêm revendo os seus pactos de representação, a própria produção artística contemporânea tem desempenhado um papel decisivo na reconfiguração crítica da memória e da história, propondo narrativas que desmontam as temporalidades lineares e os enquadramentos coloniais. Artistas como Kapwani Kiwanga, por exemplo, utilizam arquivos históricos, procedimentos performativos e instalações espaciais para recriar as condições de invisibilidade impostas às populações africanas e afro-diaspóricas. Mais do que um trabalho estético, trata-se de uma verdadeira intervenção epistemológica, pois devolve à arte o seu poder de questionar o modo como o mundo foi organizado e de propor novas formas de inteligibilidade. Exposições como Afro-Atlantic Histories, When We See Us e, mais recentemente, This Is Not Africa (Fundação Gulbenkian), operam igualmente nesse território, ao rejeitarem a ideia de que a presença africana deve ser representada apenas como passado ou como experiência traumática.
Ao observarmos esse conjunto de práticas (museológicas, artísticas, comunitárias), torna-se evidente que o debate sobre a diáspora africana ultrapassa o campo da representação. O que está em jogo, na verdade, é o reconhecimento de uma matriz civilizatória, cujos léxicos, cosmologias e formas de pensamento continuam a alimentar, de modo subterrâneo, o tecido cultural latino-americano. As danças, os cantos, as festas de terreiro, os sistemas de cuidado e os rituais de passagem não podem ser tratados como resíduos etnográficos, mas como formas originárias de elaboração do mundo, capazes de produzir, ainda hoje, modos coletivos de existência e resistência. Nas experiências onde a oralidade, a espiritualidade e o corpo ocupam o centro, evidencia-se um princípio que rompe com o modelo de conhecimento colonial, o conhecimento como partilha, como escuta e como continuidade. Quando o Memorial da América Latina assume o compromisso de criar pontes entre memória material e memória textual, entre arquivos e oralidades, entre centros institucionais e territórios periféricos, ele se coloca exatamente nesse movimento de reconfiguração epistemológica. E o que as experiências internacionais mostram é que esse não é apenas um dever ético, trata-se de uma oportunidade concreta de inaugurar novas formas de percepção e de pertencimento.
O silêncio em torno da presença africana nunca foi ausência, foi construção, e, como toda construção, pode, e deve, ser desmontada. As experiências que hoje se multiplicam na museologia internacional, na arte contemporânea e na antropologia crítica apontam para um mesmo sentido, não basta incorporar novas vozes a um sistema antigo, é preciso reconfigurar o próprio sistema, abrindo espaço para uma outra ideia de memória, de autoria e de futuro. Essa tarefa exige um olhar interdisciplinar e, sobretudo, um compromisso ético. Falo a partir de um percurso pessoal que, ao longo de uma longa vida profissional, atravessa o direito autoral, o campo da museologia e a pesquisa antropológica, uma trajetória a serviço do conhecimento. Essa trajetória me permitiu compreender que a disputa contemporânea em torno da memória não é apenas institucional, mas epistemológica. Ela nos pergunta, com insistência, quem tem o poder de dizer o mundo, e a partir de que lugar. Nesse sentido, restituir à diáspora africana sua condição de fundamento epistemológico não é um gesto de reparação histórica, mas uma afirmação de possibilidade, a possibilidade de reconhecer que as formas de saber, de narrar e de imaginar nascidas da experiência afro-diaspórica constituem um ponto de partida indispensável para que possamos, coletivamente, reconstruir os horizontes da cultura latino-americana. O silêncio, então, deixa de ser um vazio, passa a ser um convite, um espaço onde a escuta pode finalmente produzir presença.