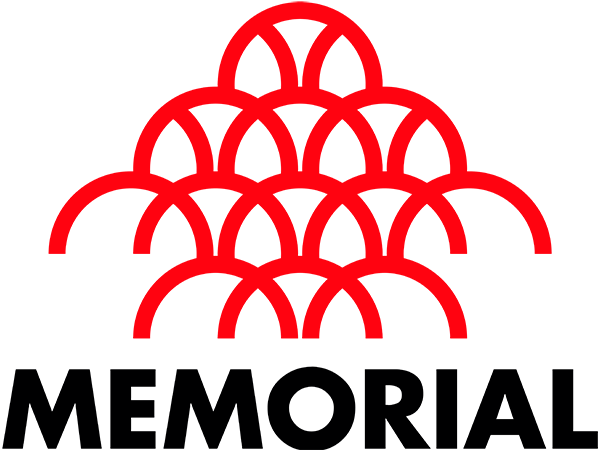COLUNA

Por Pedro Machado Mastrobuono
Presidente da Fundação Memorial da América Latina
Pós-doutor em Antropologia Social; agraciado pelo Senado Federal com a Comenda Câmara Cascudo por sua trajetória na defesa do patrimônio cultural brasileiro
Lutar não é lembrar: povos indígenas, museologia e o direito ao presente

No último dia 7 de fevereiro foi celebrado, no Brasil, o Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas. A data costuma aparecer no calendário público como um marco simbólico, evocada por postagens institucionais, discursos bem-intencionados e imagens que reiteram, quase sempre, a mesma narrativa: a dos povos indígenas como origem, como passado, como herança distante. O risco desse gesto não está na lembrança em si, mas naquilo que ela pode ocultar. Quando a memória se torna confortável demais, ela deixa de interpelar o presente.
Talvez seja justamente por isso que a palavra “luta” mereça mais atenção do que a palavra “dia”. Luta não se refere ao que passou, mas ao que insiste. Não designa apenas resistência histórica, mas conflito contemporâneo. Falar em luta indígena, hoje, é reconhecer que a questão não está resolvida, que ela não pertence ao campo da nostalgia nem pode ser confinada ao terreno da homenagem. Ela atravessa a política, a cultura, a linguagem, os modos de reconhecimento e, de forma decisiva, as instituições responsáveis por produzir sentido sobre quem somos como sociedade.
É nesse ponto que a museologia se torna uma chave fundamental de leitura. Não porque o museu seja, como tantas vezes se repete no senso comum, um depósito de coisas antigas, mas porque ele é, ou deveria ser, um espaço de vida, de disputa e de produção de narrativas sobre o presente. A museologia contemporânea já superou, há muito, a ideia do museu como vitrine do passado. O problema é que a sociedade, em grande medida, ainda não. E essa defasagem entre prática museológica e percepção social produz efeitos profundos sobre a forma como os povos indígenas são compreendidos.
Quando o indígena aparece apenas no museu, mas não na política, algo está profundamente desalinhado. Quando sua presença é aceita como objeto de exposição, mas não como sujeito de direito, a memória cumpre uma função ambígua: preserva símbolos enquanto neutraliza vozes. Não se trata de acusar o museu, mas de reconhecer que ele funciona como espelho. O lugar que damos aos povos indígenas nas narrativas museais revela, com nitidez, o lugar que estamos dispostos a lhes conceder na vida social.
A antropologia há muito demonstrou que o grande equívoco das sociedades coloniais não foi reconhecer a diferença, mas hierarquizá-la. Transformar modos de vida em estágios, culturas em degraus, povos em vestígios. Essa lógica, que atravessou a ciência, a política e a cultura, produziu uma imagem persistente do indígena como alguém que pertence ao “antes”: antes do Estado, antes da nação, antes do progresso. A museologia, quando capturada por essa narrativa, corre o risco de reforçar a ideia de que os povos indígenas são patrimônio apenas enquanto passado, e não enquanto presença ativa no mundo contemporâneo.
Esse movimento é ainda mais problemático quando se confunde reconhecimento com tutela. Proteger objetos, registrar saberes, documentar rituais pode ser necessário, mas torna-se insuficiente quando os próprios povos que produzem esses saberes permanecem excluídos das decisões que os afetam. A tutela é uma das heranças coloniais mais persistentes da América Latina. Ela se apresenta como cuidado, mas opera como controle. Fala em nome do outro, decide pelo outro, interpreta o outro, raramente escuta.
Celebrar a cultura indígena sem reconhecer o indígena como sujeito político é uma forma sofisticada de apagamento. É possível aplaudir danças, exibir artefatos, registrar línguas, e ainda assim manter intactas as estruturas que silenciam aqueles que dão sentido a tudo isso. A museologia crítica, em diálogo com a antropologia, existe justamente para tensionar esse paradoxo, para lembrar que não há patrimônio vivo sem pessoas vivas, e que não há memória justa sem reconhecimento.
Na América Latina, esse debate assume contornos ainda mais complexos. Trata-se de um continente em que natureza e cultura jamais se separaram da forma como a modernidade ocidental insistiu em fazê-lo. Para muitos povos indígenas, rios não são apenas recursos, florestas não são apenas paisagens, animais não são nem de longe objetos, e a língua não é apenas instrumento de comunicação. Ela é cosmovisão, forma de organizar o mundo, de nomear relações, de produzir ética e pertencimento. Ignorar isso é reduzir a diversidade a ornamento.
Não por acaso, algumas experiências latino-americanas têm avançado mais rapidamente na incorporação dessa compreensão. O Paraguai é um exemplo eloquente. O guarani não é ali apenas uma herança simbólica, mas língua de Estado, com léxico, gramática e presença efetiva na vida pública. Não se concebe um concurso público que ignore essa realidade. A língua não é tratada como curiosidade cultural, mas como fundamento de cidadania. O contraste com o Brasil não deve servir à comparação ressentida, mas à responsabilidade histórica.
É nesse horizonte que iniciativas recentes ganham relevância. O Memorial da América Latina, em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em diálogo com instituições acadêmicas e com o Ministério da Cultura do Paraguai, acaba de instituir uma cátedra dedicada às línguas originárias. Não como gesto administrativo, mas como afirmação de princípio. Tratar línguas como o guarani a partir de sua densidade cultural é reconhecer que preservar uma língua é preservar uma forma de pensamento, uma ética relacional, uma maneira singular de habitar o mundo. É afirmar que museologia não é vitrificação, mas escuta qualificada.
Esse tipo de iniciativa aponta para um deslocamento necessário. O indígena deixa de ser apenas objeto de memória e passa a ser reconhecido como produtor de mundo no presente. A língua deixa de ser vestígio e se afirma como prática viva. A instituição cultural deixa de ser mediadora distante e assume o risco do diálogo. Nada disso elimina conflitos, mas os torna visíveis, e tornar visível é o primeiro passo para transformar.
O Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas, quando lido a partir desse prisma, deixa de ser uma data confortável. Ele se torna um espelho incômodo. Que lugar real os povos indígenas ocupam no nosso projeto de América Latina. O lugar do símbolo ou o lugar do sujeito. O lugar da vitrine ou o lugar da palavra. O lugar do passado celebrado ou o lugar do presente disputado.
Lutar não é apenas lembrar. Lutar é recusar a redução do outro a imagem, a folclore, a patrimônio neutralizado. É insistir que justiça cultural não se faz apenas com datas, mas com escolhas institucionais, políticas e simbólicas que reconheçam, de fato, o direito ao presente. Nesse sentido, a luta indígena não diz respeito apenas aos povos indígenas. Ela diz respeito ao tipo de sociedade que a América Latina deseja ser, e ao modo como escolhe narrar a si mesma.