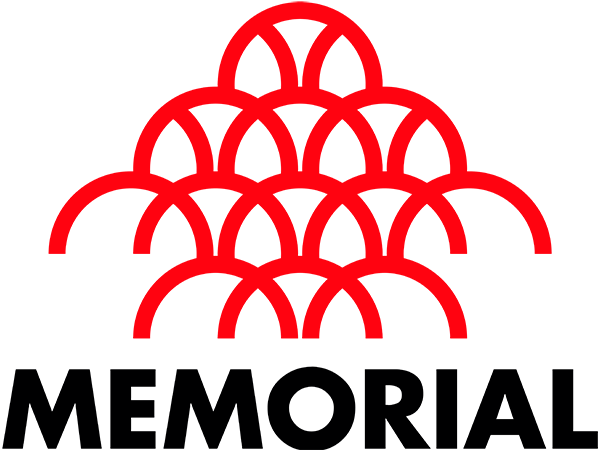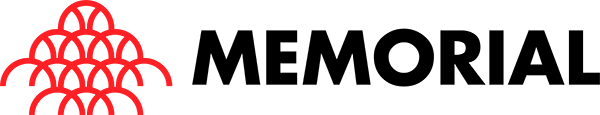COLUNA

João Carlos Corrêa
Diretor Executivo de Atividades Culturais e Relações Institucionais da Fundação Memorial da América Latina
Especialista em Gestão Cultural e Indústria Criativa (PUC-RJ); Jornalismo Cultural e de Entretenimento (Belas Artes-SP); e mestrando em Gestão e Políticas Públicas (IDP-SP)
Brasileiro: do ofício ao pertencimento
A história que moldamos dá rumo ao país que queremos ser
Não raro, encontro quem rejeita o rótulo de “latino-americano”. É uma reação que entendo, mas é sempre bom lembrar que o termo “brasileiro” também nasceu de uma lógica colonial, associada a uma atividade extrativista, e fomos nós que, ao longo do tempo, a transformamos em sinônimo de pertencimento. A identidade é um processo que se molda a cada dia.
Nossa língua carrega as cicatrizes da nossa história. Veja-se o peso que damos aos finais das palavras. Um sufixo como “-ista” parece nos levar para o palco, para o prestígio. Já o “-eiro”, muitas vezes aparece associado ao trabalho manual, àquele que constrói com as mãos, mas que nem sempre recebe o devido reconhecimento. A gramática, sutilmente, espelhou a hierarquia social.

Foto Adobestock
Também aprendemos uma fábula cômoda sobre a origem do país. Não existe “descoberta” de lugar onde havia gente, nome e rota. Antes do choque colonial, havia trocas, havia lei que não passava por Lisboa nem por Madri, havia Pindorama, nome usado por diversos povos indígenas, especialmente os Tupi-Guarani, para se referir à terra que hoje conhecemos como Brasil. Mas além do tronco Tupi-Guarani, havia (e há) outros grandes troncos linguísticos e culturais; portanto, cada um desses povos tinha seu próprio nome para o território onde vivia. Diante disso, renomear pessoas e territórios virou técnica de mando. Muda-se o nome, muda-se o status. Assim se abriu a temporada de etiquetas que até hoje custam direitos.
Nesse cenário, a nossa própria nacionalidade carrega um sinal que diz muito. “Brasileiro” foi, por um bom tempo, nome associado ao circuito do pau-brasil (ou ibirapitanga, seu nome em tupi antigo) e ao comércio dos seus pigmentos. Era a marca de um ofício ligado à extração, com violência de base e lucro para poucos, e que depois virou gentílico. Isso é bem mais que um detalhe de etimologia. Na verdade, é sintoma de formação, pois crescemos achando que o país é lugar de retirar e escoar, não de criar e ser protagonista. A palavra ficou e, com ela, uma ideia de nós mesmos que precisa ser reordenada constantemente.
Tenho aqui a oportunidade de desfazer uma falsa oposição. Se alguém estranha o termo “latino-americano”, lembre-se de que a nominação “brasileiro” também começou como batismo colonial e foi passando pela nossa releitura. Darcy Ribeiro já nos ensinava que identidades não são essências fixas; são processos históricos que forjam povos novos a partir do encontro doloroso e criativo entre matrizes indígenas, africanas e europeias. Recusar “latino-americano” enquanto se aceita “brasileiro”, é incoerente. Ambos nasceram no bojo da colonização e ambos podem ser reapropriados para um projeto de país e de continente que nos reconheça como autores, não como apêndices.
Tem uma frase de efeito, que eu particularmente gosto e que aqui cai como uma luva. Ela diz que identidade não é sentença, é processo. Quando chamamos de povos originários aqueles que aqui estavam muito antes das caravelas, devolvemos precisão e respeito. Quando lembramos que, antes da chegada de portugueses e espanhóis, já existia o que hoje reconhecemos como América Latina, recolocamos nosso pertencimento em escala continental. Se pararmos para refletir um pouco mais, talvez possamos perceber nisso tudo mais que nostalgia e identificar uma estratégia de futuro. Mas tenho que confessar que nós mesmos, no Memorial, ainda estamos aprendendo a praticar essa integração que defendemos.
O problema é que a velha pedagogia da divisão ganhou espaço e se multiplicou nas redes e algoritmos, ganhando volume e transformando diferenças em trincheiras. Hoje, somos irmãos contra irmãos por tudo, desde a religião ao voto, e, enquanto isso, seguimos exportando criatividade e importando projetos. O resultado é um Brasil cansado, que empreende e se reinventa, e mesmo assim é levado a se enxergar menor. Curiosamente, somos rápidos em importar modelos de gestão cultural europeus, mas hesitamos em aprender com nossos vizinhos andinos e caribenhos.
Em meu mundo ideal desejado, o recomendado seria dar a mesma centralidade ao mestre de ofício, à sabedoria ancestral de uma comunidade indígena e à pesquisa de ponta de uma universidade, colocando tudo isso no orçamento, com continuidade, metas e avaliação pública. As escolas poderiam estar colaborando mais deixando bem claro de onde viemos, contando a história que começou antes de 1500 e seguir contando a história que está viva nos territórios hoje. E é preciso levar a economia criativa a sério, com políticas que enxerguem o valor gerado nos ateliês, nas cozinhas, nos estúdios da periferia, nas rodas de viola e nos palcos, sem pedir desculpa por existir.
Aproveito para afirmar que o Memorial da América Latina tem lugar e compromisso com a história. Somos equipamento de Estado e casa de integração. Abrimos espaço para encontros que geram sentido e trabalho e, quando programamos um festival, uma exposição, uma feira de livros ou um ciclo de debates, não estamos apenas ocupando agenda, mas sim afirmando que identidade continental é prática, é circulação de conhecimento e é autoria coletiva.
Lembro-me de uma edição do festival Yunza que recebemos no ano passado. Ao ver jovens paulistanos, cujos avós talvez fossem da Itália ou do Nordeste, dançando e celebrando o ritual da diablada, tive a clara sensação de que a identidade é, antes de tudo, um ato de encontro e de escolha. Ali, na prática, a América Latina não era um conceito distante, mas um corpo único. É essa a identidade que, afirmamos, se constrói na prática, na circulação de conhecimento, na autoria compartilhada.
Recontar a nossa história com elementos de autoafirmação e pertencimento é fazer política pública de base simbólica. Um Brasil que sabe honrar seus ofícios, que reconhece ciência e arte como partes da mesma engrenagem, que se assume latino-americano por convicção e não por acidente, dá um passo para fora do extrativismo mental. A palavra “brasileiro” pode continuar lembrando um ofício, porém precisa significar, cada vez mais, autoria. Autoria de um projeto de país que não terceiriza destino.
No fim, a tarefa é menos sobre trocar uma etiqueta antiga por uma nova e mais sobre arrancar todas elas para nos enxergarmos sem filtros. Nossa história nos explica, mas não nos define. O futuro está em aberto, e ele será moldado pela coragem com que nos nomearmos, nos organizarmos e nos reconhecermos a partir de agora. É nesse espaço que a palavra “brasileiro” pode, finalmente, transcender a memória de um ofício de extração para se tornar a assinatura de um povo que, como diz o hino, é de fato ‘gigante pela própria natureza’ e autor de seu próprio destino. O mesmo vale para “latino-americano”, que hoje já pode ser traduzido, sim, como um grito de pertencimento e soberania, digno de nominar um Memorial como símbolo da união dos povos de nosso continente.

Foto Adobe Stock