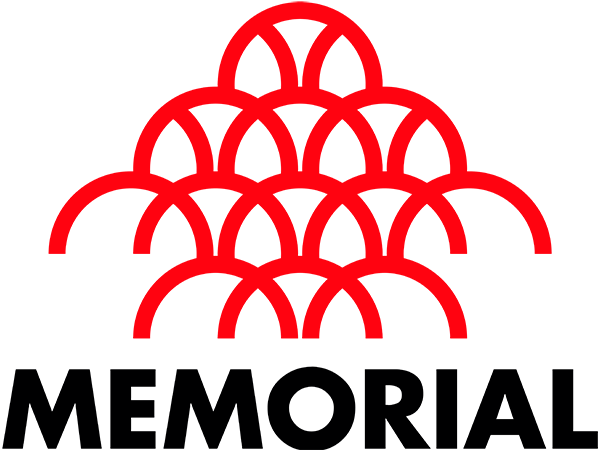COLUNA

Por Pedro Machado Mastrobuono
Presidente da Fundação Memorial da América Latina
Pós-doutor em Antropologia Social; agraciado pelo Senado Federal com a Comenda Câmara Cascudo por sua trajetória na defesa do patrimônio cultural brasileiro
A palavra ancestral e o silêncio das fronteiras
A história da América Latina ainda é, em larga medida, narrada a partir do ponto de vista de quem a conquistou e não de quem a concebeu. A herança dos povos originários, que moldaram a paisagem espiritual, política e ecológica do continente muito antes da chegada dos europeus, permanece em grande parte silenciada por narrativas coloniais que insistem em traduzir a alteridade em exotismo e o sagrado em folclore.

Foto: Adobe Stock
A cosmovisão dos povos originários do continente, como os mapuches do Chile, os nahuas e maias do México, os guaranis, quéchuas e aimarás, apresenta uma concepção do mundo radicalmente diversa da racionalidade europeia que se impôs sobre o território. Para esses povos, o mundo não é uma coisa a ser explorada, mas um ser que necessita de respeito. A terra não é recurso, é mãe. O tempo não é linha, é espiral. E a palavra, que antecede a escrita, é a expressão viva de um universo em que a linguagem não serve apenas para comunicar, mas para criar.
O desaparecimento ou enfraquecimento das línguas originárias representa, portanto, mais do que uma perda linguística. É a erosão de um modo de ser no mundo, a destruição de uma ontologia, de uma ética e de uma estética próprias. Quando uma língua morre, não é apenas um vocabulário que se extingue, mas toda uma gramática de percepção, uma forma singular de interpretar o cosmos, de habitar o território e de compreender a vida e a morte.
No México, sobrevivem hoje mais de sessenta línguas indígenas oficialmente reconhecidas, entre elas o náhuatl, o maia yucateco, o mixteco, o zapoteco e o tzeltal. Cada uma delas abriga uma cosmologia que articula natureza e espiritualidade em termos que a lógica ocidental tem dificuldade de traduzir. No Chile, o mapudungun, língua dos mapuches, significa literalmente “a fala da terra”. Nela, o verbo “che” indica não apenas a pessoa, mas o ser em relação ao território e à comunidade. É uma língua que não concebe o indivíduo como unidade isolada, mas como nó de uma rede viva de reciprocidades. A noção de itrofil mongen, que pode ser traduzida como “diversidade da vida”, expressa o entendimento de que a existência é inseparável da totalidade dos seres, humanos e não humanos.
A América Latina, ao longo de séculos, foi sendo educada a olhar-se com olhos alheios. O resultado é uma profunda marginalização das cosmologias indígenas, que são tratadas como passado e não como presença. No entanto, são justamente essas cosmologias que guardam a chave para compreender os desafios contemporâneos do continente, como o colapso ambiental e a crise da identidade nacional.
O Memorial da América Latina, ao celebrar nesta edição os povos originários, cumpre sua vocação de espaço de reconciliação e reconhecimento. É no reencontro com essas matrizes que o continente poderá reencontrar também o seu futuro. No entanto, é preciso ir além da celebração simbólica e tomar iniciativas concretas voltadas à preservação dessas línguas e de sua cosmovisão. É necessário registrar e difundir os saberes orais antes que se percam com o falecimento dos seus portadores, criando acervos, arquivos sonoros e projetos de documentação que assegurem a continuidade dessas tradições.
Do mesmo modo, é essencial garantir que esse conhecimento seja acessível à sociedade contemporânea, por meio de reflexões acadêmicas, exposições, programas educativos e de comunicação cultural que permitam que as novas gerações compreendam a profundidade e a atualidade do pensamento indígena. Somente pela integração desse patrimônio imaterial ao campo público é que a identidade latino-americana poderá se solidificar de forma real e eficaz.
Muitas vezes, a versão cultural e filosófica concentrada na Europa funciona, entre aspas, como uma roupa muito justa para nós, latino-americanos. Ela nos aperta, nos impede de respirar plenamente, e nos afasta daquilo que nos constitui em profundidade. Essa inadequação produz uma dificuldade de identidade cultural que persiste ao longo dos séculos e que apenas será superada quando voltarmos a escutar as vozes que a colonização tentou calar.
Enquanto houver uma língua originária sendo falada, haverá também uma forma de dizer o mundo que não se rende ao silêncio. E é esse murmúrio ancestral, vindo do fundo da terra, que continua a lembrar à América Latina que a sua verdadeira voz não nasceu nas metrópoles, mas nas aldeias que aprenderam a conversar com o vento.