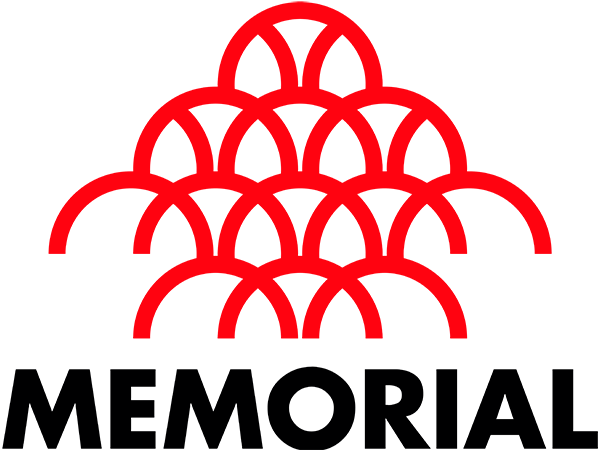COLUNA

João Carlos Corrêa
Diretor de Atividades Culturais da Fundação Memorial da América Latina
Especialista em Gestão Cultural (PUC-Rio) e em Jornalismo Cultural e de Entretenimento (Belas Artes-SP); mestrando em Gestão e Políticas Públicas (IDP-SP) e em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo (PROLAM-USP).
A invenção da raça e a colonialidade na vida moderna
A ideia de racialidade abriu caminho para a colonização da América Latina e segue ditando as normas para salários, prestígio e acesso ao saber. As colonialidades reaparecem nas instituições, e as “emancipações tuteladas” expõem o desafio de romper linhas invisíveis na gestão pública

Cena da escravidão no Brasil, por Jean-Baptiste Debret
Sempre que ouço a palavra “raça”, me vem à pele toda uma construção de processos em minha vida, muitos deles bem doloridos, confesso. Não falo apenas do impacto individual, embora ele exista. Falo também do uso histórico dessa ideia como ferramenta de poder. A raça foi determinante para justificar a colonização do território hoje conhecido como América Latina e as sequelas dessa política seguem perceptíveis em nossa sociedade e na gestão pública.
É inquestionável que a ideia de raça nasceu como ferramenta política, autorizativa para tomar terra e explorar trabalho, hierarquizando vidas. Esse conceito foi adotado sobretudo para impor um novo regime de verdades. Primeiro, serviu para ordenar quem podia mandar e quem devia obedecer. Depois, para definir quem tinha direito ao saber reconhecido e quem seria empurrado para o trabalho escravo. Basicamente, definiu que quem era considerado plenamente humano decidia o destino do mundo. Da mesma forma, quem era classificado como “o outro” entrava na história como problema, como mão de obra, como objeto de tutela, palavra-chave nesta discussão.
Os acadêmicos chamam de colonialidade do poder esse padrão de classificação que atravessa economia, autoridade e produção de conhecimento. A colonialidade é a continuação do gesto colonizador por outros meios, determinando quem tem acesso ao trabalho reconhecido, ao salário digno e ao lugar social de quem “sabe”, definindo quais saberes viram ciência e quais ficam na prateleira da tradição, e a meu ver esse talvez seja esse o ponto mais incômodo. Mesmo quando mudam as bandeiras, permanecem as hierarquias que a raça ajudou a instalar como se fosse esse o curso natural das coisas.
Hoje, quando o Estado, ainda que bem-intencionado, transforma direitos em processos condicionais, a colonialidade pode estar operando camuflada pela linguagem da inclusão. Já se perguntaram sobre o porquê de uma política que é pública e universal ainda impor o enquadramento como condição para o atendimento? E será que uma vez ‘enquadrados’ e devidamente classificados deixamos de ser indivíduos para sermos rótulos?
É nesse ponto que o pensamento crítico de Emmanuel Brasil adiciona uma camada decisiva para quem quer compreender, de modo sutil e preciso, a influência da colonialidade nas políticas públicas. Ao discutir a ideia de “emancipações tuteladas”, ele nos fala sobre como muitas intervenções estatais são apresentadas como libertadoras e, não raro, produzem alívio real e necessário. O problema surge quando, em certos desenhos, esse alívio vem mediado por filtros que condicionam o acesso a direitos, estabelecem critérios de merecimento e exigem performances específicas de adequação ao institucional. O resultado pode ser a produção de sujeitos simultaneamente reconhecidos e subordinados. A tutela, nessa leitura, aparece como política pública que promete emancipar enquanto gera dependências.
Esse deslocamento de olhar é poderoso porque muda a pergunta, pois uma política pública decide o que vira problema, quem é o público-alvo, que tipo de vida se torna legível ao Estado e sob quais condições. Se olharmos atentamente, é possível perceber o colonial permeando quando quem recebe o benefício precisa provar o tempo todo que é digno, quando seu acesso depende de triagens reiteradas e quando sua autonomia só é reconhecida se obedecer ao roteiro institucional de “boa conduta”. Por vezes, se busca dar cidadania, mas a entrega se limita a concessões condicionadas, ainda que a intenção declarada seja a de bem servir.
Em outras palavras, você já se deu conta de como políticas públicas tais como o bolsa-família, ou mesmo o sistema de cotas, categorizam o beneficiário do sistema?
Calma lá, isso não é um ataque aos programas. Parafraseando o professor Emmanuel Brasil “se estou criticando é porque quero que o sistema melhore”.
Eu não queria deixar essa discussão cair no campo acadêmico, que é de onde veio toda essa reflexão, mas trago também a leitura de Boaventura de Sousa Santos, que nos apresenta a metáfora das linhas abissais. Linhas que separam o mundo entre o que conta e o que pode ser tornado invisível. Deste lado, saberes e sujeitos reconhecidos como legítimos. Do outro lado, experiências tratadas como inexistentes ou incompreensíveis. Ao definir o que de um lado pode e é direito, o outro lado deixa de existir. O lado “certo” pertence a quem define o que existe juridicamente ou não. Assim, povos, línguas e culturas foram apagados. Ficaram do lado errado da linha.
Quando aproximamos Emmanuel Brasil e Boaventura, a engrenagem fica mais nítida. As emancipações tuteladas podem funcionar como uma forma contemporânea de linha abissal dentro das instituições. A política diz que inclui, mas inclui por uma porta estreita. O sujeito entra, mas entra com a identidade administrativa de alguém que está em falta, seja de renda, de escolaridade, ou até mesmo de “consciência”. A vida concreta é traduzida em insuficiência, e o Estado se coloca como tutor do caminho certo.
Entendo que o cuidado cidadão na elaboração da política pública pode existir e, na maioria das vezes existe mesmo e de maneira honrada. Ainda assim, a estrutura continua exigindo submissão às regras de um reconhecimento sempre provisório. E não estou pregando anarquia, como alguns podem erroneamente pensar, mas alertando que a modernidade administrativa, quando não fazemos as perguntas certas, pode confundir o governar com o tentar encaixar o outro em um molde estigmatizado e estigmatizador.
Para olhar além do abismo burocrático não é preciso que se abandone a técnica, mas que deixemos de lado a arrogância de nos considerarmos, enquanto gestores, os superiores benevolentes que decidem o destino do outro. Isso exige que políticas sejam avaliadas também por seus regimes de mediação, pelas formas de escuta que institucionalizam, pelos modos como distribuem respeito e pelo tipo de sujeito que fabricam ao longo do processo (isso mesmo, “fabricam”).
Curiosamente, esses dias ouvi um termo novo para mim. O fazer “bilu-bilu” médico. Ri alto com a expressão, mas fez todo sentido. Quando se vai a um médico que tem a preocupação do “bilu-bilu”, que nada mais é do que a atenção aos detalhes e a preocupação com as reais necessidades do paciente, já se sai com a cura mesmo antes de tomar o remédio, se é que se vai precisar dele. Quando se percebe o indivíduo além de formulários, indicadores e rótulos, temos a condição de prescrever o melhor caminho da cura. Numa escala maior, vale para os gestores e legisladores públicos e as políticas formuladas que nos atendem a todos e a cada um.
Se a ideia de raça foi determinante para justificar a colonização, as colonialidades são sua reprodução persistente na vida social e institucional, inclusive dentro de boas intenções. O que está em jogo agora é decidir se vamos continuar replicando o gestor colonizador na forma de tutela e condicionamento, ou se vamos abrir espaço para um Estado que reconheça direitos sem exigir performances de submissão, e para uma esfera pública que trate nossos saberes e individualidades como fundamento.
Qual é a forma mais sutil de tutela que você enxerga hoje nas políticas e instituições ao seu redor (aquela que promete autonomia mas exige obediência e acaba estigmatizando as pessoas) e qual ajuste concreto de desenho ou prática poderia romper esse roteiro sem perder a capacidade de entregar direitos?
São perguntas que devemos ter em mente em cada ato enquanto gestores e em cada crítica construtiva enquanto cidadãos.