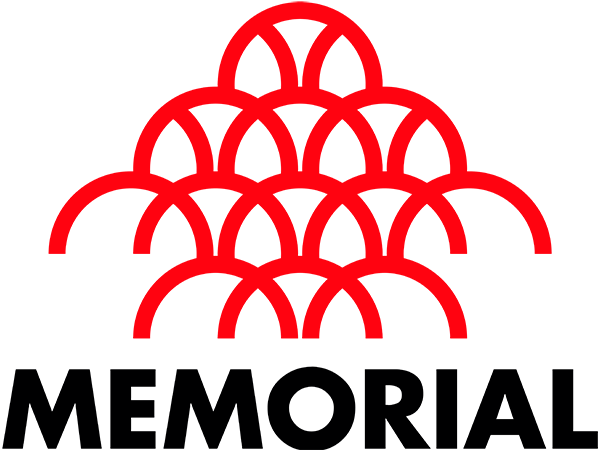COLUNA

Por Pedro Machado Mastrobuono
Presidente da Fundação Memorial da América Latina
Pós-doutor em Antropologia Social; agraciado pelo Senado Federal com a Comenda Câmara Cascudo por sua trajetória na defesa do patrimônio cultural brasileiro
A civilização que ainda podemos ser
Vivemos um tempo em que a sociedade brasileira parece padecer de um adoecimento profundo, quase como uma doença autoimune. O corpo social volta-se contra si mesmo, destrói seus próprios anticorpos simbólicos e despreza suas próprias reservas éticas. A polarização esteriliza iniciativas, impede diálogos, transforma diferenças em trincheiras, paralisa a capacidade de pensar e anula a complexidade. A universidade, lugar historicamente destinado à escuta, à pesquisa, à pluralidade e ao dissenso epistemológico, converteu-se, em muitos casos, apenas em câmara de eco. O debate de ideias foi substituído por ataques pessoais, a crítica virou hostilidade e a divergência se transformou em ofensa. Nesse ambiente rarefeito, é comum que me perguntem, como pós-doutor em antropologia social e alguém que dedicou grande parte da vida ao estudo da diversidade humana, o que poderia servir de antídoto para essa febre social que corrói o país.

Os pensamentos do coração (1988), Leonilson
É exatamente nesse momento que me recordo, de modo quase instintivo, da constelação de vidas sobre as quais me debrucei com profundidade: Alfredo Volpi, José Leonilson, Paula A Baiana, Santos Dumont e Darcy Ribeiro. Lembro-me deles não pela fama ou pelo brilho dos nomes, mas porque essas figuras, cada uma à sua maneira, encarnam aquilo que entendo como a espinha dorsal de uma sociedade justa. São vidas que representam altruísmo, desapego, pluralidade afetiva, coragem ética, tolerância e dignidade. Em um Brasil atravessado por tensões raciais, desigualdades históricas, violências simbólicas e feridas abertas, reencontrar esses gestos de humanidade se tornou não apenas um exercício intelectual, mas uma necessidade moral.
Minha aproximação com Volpi foi muito mais que acadêmica. Antes de mergulhar nos arquivos, documentos, depoimentos e materiais que compõem o catálogo raisonné que ajudei a desenvolver, vivi ao lado dele. Cresci na presença de algumas das crianças criadas por Volpi e sua esposa, na convivência amorosa daquele núcleo familiar ampliado. Meu pai e Volpi foram grandes amigos, e eu me tornei sócio-fundador e depois presidente do Instituto Volpi. Carrego em mim a memória de alguém que não apenas estudou a vida do artista, mas conviveu com o homem.
Quando me sentei, anos mais tarde, diante da papelada vasta que compõe sua história, percebi que estava voltando não ao passado de um pintor monumental, mas à minha própria formação. Volpi, italiano branco, vivendo com os pais até os cinquenta anos, casa-se com uma mulher negra, neta de escravas, no coração de um país ainda profundamente marcado pelo racismo estrutural. Juntos, acolheram e criaram mais de dezenove crianças carentes. Esse gesto, tão raro quanto decisivo, ecoa aquilo que Lévi-Strauss chamaria de parentesco por afinidade, um alargamento da família que rompe limites raciais, sociais e econômicos. Volpi não defendia teorias sobre igualdade racial. Ele vivia a prática da igualdade. Era a antropologia encarnada no cotidiano.
Com José Leonilson o caminho é outro, mas igualmente profundo. Sua obra é a afirmação de uma subjetividade sensível, vulnerável e intensamente poética. Ele bordava não apenas tecidos, mas afetos. Suas linhas eram mapas emocionais, sua agulha era instrumento de confissão, sua obra era o que Clifford Geertz descreveu como uma teia de significados, uma construção simbólica na qual cultura e experiência pessoal se entrelaçam. Leonilson, através de sua arte, questionava fronteiras entre masculino e feminino, público e íntimo, racional e intuitivo. Ele reconhecia o corpo como lugar de expressão e não como prisão. Sua obra é uma das contribuições mais belas ao repertório de sensibilidades que formam o Brasil contemporâneo. A antropologia queer encontra nele um campo fértil para pensar a sexualidade como território de criação e resistência. Em Leonilson, a vulnerabilidade nunca se convertia em ressentimento. Convertia-se, sempre, em beleza.
Paula A Baiana, de origem angolana, é outro capítulo dessa genealogia ética. Mulher negra, quituteira africana, religiosa de matriz afro-diaspórica, rompeu com doçura e coragem as estruturas mais rígidas de um país profundamente patriarcal e racista. Montou um restaurante dentro de um quartel militar, tornou-se madrinha dos fuzileiros navais, circulou com autoridade e afeto por um mundo que não fora construído para recebê-la. E, ainda assim, foi recebida, reconhecida, reverenciada e enterrada com honras militares. Sua trajetória é exemplo vivo de transformação social silenciosa, aquilo que Marshall Sahlins descreve como agência: a capacidade de reinventar o mundo não por meio de revoluções formais, mas por meio da força cotidiana da presença, do trabalho e do afeto. Paula atravessa categorias de raça, gênero, classe e religião. É testemunho vivo de que a pluralidade não é ameaça, mas potência.
Santos Dumont representa o altruísmo elevado ao extremo. Ele jamais patenteou seus inventos porque acreditava que o conhecimento deveria ser um bem comum. Quando recebeu o Prêmio Deutsch, destinou metade aos pobres. Com a outra metade percorreu casas de penhores para libertar ferramentas de trabalho penhoradas por trabalhadores. Devolveu dignidade, sustento e autonomia. Dumont antecipou, por prática, aquilo que Marcel Mauss identificou como central à vida humana: o dom, a reciprocidade, a circulação ética dos bens e dos gestos. Ele demonstrou que ciência e generosidade não são opostas, mas complementares.
Darcy Ribeiro, que também tive o privilégio de conhecer ainda muito menino, reúne em pensamento e vida tudo aquilo que essas figuras ensinam pela prática. Sua obra é um manifesto em defesa da pluralidade cultural, da mestiçagem como força civilizatória, do diálogo entre saberes, da centralidade dos povos indígenas, da contribuição decisiva das matrizes africanas, da legitimidade dos afetos e da urgência de um projeto nacional que reconheça, antes de qualquer outra coisa, a dignidade humana. Darcy acreditava que o Brasil somente se encontraria se fosse capaz de honrar seus múltiplos pertencimentos. Sua antropologia é uma convocação permanente para imaginar futuros possíveis e para recusar os determinismos de um país acostumado à desigualdade.
Há uma simetria silenciosa que atravessa essas vidas. Todos, em algum momento, adoeceram de modo grave. Volpi enfrentou o Alzheimer. Santos Dumont enfrentou a esclerose múltipla. Darcy viveu os últimos anos com câncer. José Leonilson enfrentou a AIDS em um momento histórico de profunda estigmatização. Paula A Baiana atravessou um século inteiro de lutas como mulher negra em uma sociedade hostil. Nenhum deles, porém, se converteu ao rancor ou ao ódio. Nenhum deles permitiu que a adversidade se transformasse em arma contra o mundo. A dor não os distorceu. A doença não os endureceu. A vulnerabilidade não lhes tomou a ternura. Guardaram, até o fim, a capacidade de amar, de criar, de cuidar e de respeitar o próximo. Se há cura possível para o mal-estar contemporâneo, ela certamente passa por essa ética.
Numa época em que o país se fragmenta em discursos de ódio, intolerância, racismo, agressões digitais e feridas que parecem se aprofundar a cada dia, essas figuras mostram outro caminho. Elas revelam que a pluralidade é riqueza, que a igualdade é conquista cotidiana, que o respeito ao diverso é o fundamento mais sólido de qualquer sociedade democrática e que viver para o outro, e não contra o outro, é a forma mais profunda de civilização.
Talvez seja esse o verdadeiro motivo pelo qual me aproximei delas. Não foi a notoriedade. Foi a humanidade. Não foi a fama. Foi o altruísmo. Não foi a obra isolada. Foi o gesto que sustenta a obra. E é nesse conjunto de vidas, tão diferentes e tão próximas, que encontro o único antídoto possível para a nossa crise contemporânea. O antídoto é simples e ao mesmo tempo revolucionário: cuidar do outro, honrar a diversidade, viver a generosidade, reconhecer a dignidade humana mesmo quando ela parece rarefeita. É dessa matéria que se faz uma sociedade justa. É dessa matéria que se faz o futuro. Talvez Darcy Ribeiro tivesse razão ao afirmar que o Brasil ainda pode ser uma força civilizatória. E talvez essa força não esteja nas grandes estruturas, mas nesses gestos quase invisíveis que, como brasas acesas na noite, insistem em iluminar o que ainda podemos ser.