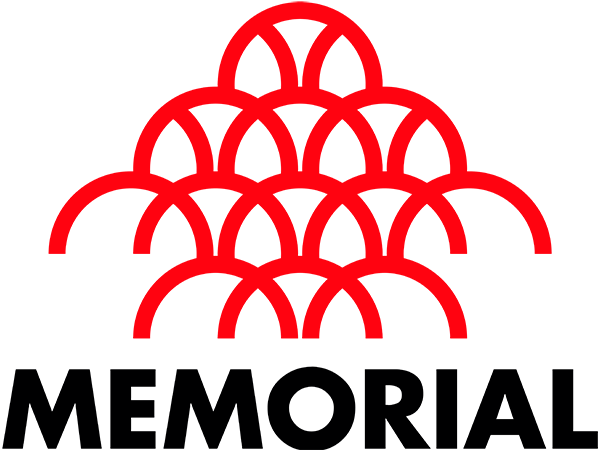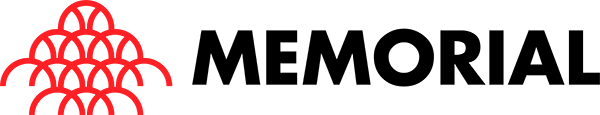Por Ana Maria Bernardelli, poeta, ensaísta e crítica literária
_Ocupando a Cadeira nº 27 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, ela escreve a respeito do texto _A palavra que atravessa montanhas, escrito pelo Presidente da Fundação Memorial da América Latina, Pedro Machado Mastrobuono.
Algumas palavras não cabem nos dicionários, tampouco se deixam conter pelas vitrines dos museus. Palavras que caminham soltas, sustentadas pela respiração do mundo, transportadas por vozes, não por tintas. Pedro Mastrobuono, em seu texto A palavra que atravessa montanhas, percorre um território onde a linguagem deixa de ser mero instrumento comunicativo para se tornar um corpo coletivo de memória. Sua escrita, ao mesmo tempo sensível e política, nos conduz por uma paisagem onde os sons são mais antigos que os mapas, e onde os idiomas não se medem pela gramática, mas pela persistência do rito.
O autor parte de uma lembrança de infância, vivida no Peru, quando escutou pela primeira vez, em um rádio de cozinha, uma transmissão em Kichwa — a variante equatoriana do Quechua. Essa cena doméstica, quase banal, revela-se semente de uma consciência: há palavras que sobrevivem além dos tratados, das fronteiras e dos silêncios impostos pela história oficial. Mastrobuono escreve como quem devolve voz ao que foi calado, instaurando uma escuta que não é passiva, mas ética e comprometida.
Nesse gesto de escuta, há uma crítica velada — e por isso poderosa — ao modo como a cultura ocidental, sobretudo após a colonização, reduziu a linguagem a um sistema gráfico, escrito, codificado. A oralidade, pilar das civilizações ameríndias, foi relegada ao campo do exótico ou do folclórico. No entanto, como o autor bem mostra, ela não é resíduo: é fonte. É a espinha dorsal de saberes que, mesmo à margem do arquivo, continuam a criar, a ensinar, a moldar o tempo.
Ao mencionar o Kichwa, o Guarani, o Aymara, o Nahuatl e outras famílias linguísticas, Mastrobuono não realiza um inventário linguístico. Ele revela uma paleta civilizatória, uma América Latina feita de muitas vozes — vozes que não cabem no rótulo colonizador dos “incas, maias e astecas”. Tal recorte, tão repetido quanto simplificador, invisibiliza a diversidade profunda de línguas e epistemologias que continuam vivas, mesmo que sob ameaça.
A presença dessas línguas nos espaços contemporâneos — seja o Kichwa ressoando nas cozinhas peruanas, o Guarani nas ruas do Paraguai ou o Aymara nas alturas dos Andes — não é mero dado etnográfico. É resistência. É o desmentido vivo das profecias de apagamento. É a recusa em se dobrar à hegemonia do espanhol e do português. A palavra, nesses contextos, não serve apenas para designar o mundo. Ela o sustenta, o recria, o canta.
O leitor crítico, atento à espessura dos símbolos, percebe no texto de Mastrobuono uma intenção que vai além da homenagem às línguas originárias. Há ali um desejo de descolonizar o conceito de conhecimento, de desafiar os paradigmas de cultura que separaram fala e saber, gesto e ciência, mito e razão. Quando o autor diz que “nem tudo que se grava na pedra precisa ser lido”, ele toca a pedra com a escuta. Ele recusa a lógica ocidental que tudo quer nomear, tudo quer fixar. Ele nos convida a ouvir imagens, a reconhecer que há epistemologias que não cabem em livros, mas que vibram em mantos, flautas, silêncios cerimoniais. “Escuchar con el cuerpo, / ahí está la ciencia que no aprendimos” — Eduardo Galeano
Discutir esse texto em termos de América Latina é, portanto, discutir a identidade plural de um continente que nasceu da encruzilhada — e que se recusa a ser homogêneo. É reconhecer que, sob as camadas do português e do espanhol, palavras antigas continuam ecoando, algumas entoadas em cantos, outras sussurradas entre gerações. O ensaio nos lembra que nem todas as línguas precisam ser escritas para existirem, mas onde houve escrita, também houve apagamento. E onde houve apagamento, há hoje movimentos de resgate, de ressonância, de insurgência poética.
No fundo, o texto é um convite à escuta. Mas não qualquer escuta. Uma escuta afetiva, ética e descolonizadora. Escutar essas línguas é escutar o continente que somos — feito de montanhas, sim, mas também de vozes que as atravessam. Escutar é resistir ao silenciamento. É fazer da palavra um ato de presença. Porque há, como disse Pedro Mastrobuono, palavras que vêm antes da fronteira. E continuam, ainda hoje, no ar. Esperando que alguém as escute.
Nesse sentido, ressoa a advertência de Darcy Ribeiro: “A perda das línguas indígenas no Brasil e na América é a perda de nossa alma mais profunda.” Para Darcy, a América Latina não se resume às línguas coloniais. Sua luta pela valorização do que chamou de “povos testemunho” incluía o reconhecimento dessas línguas como sistemas vivos de conhecimento, imprescindíveis para a preservação da memória, da diversidade e da verdadeira identidade latino-americana. Escutar essas línguas, portanto, é mais do que um ato de atenção: é um gesto de pertencimento e reparação.