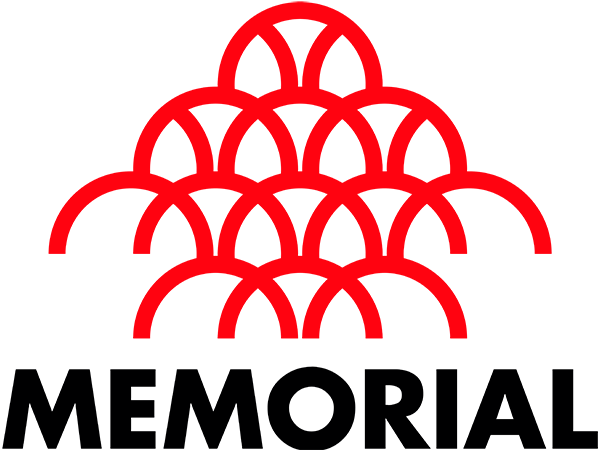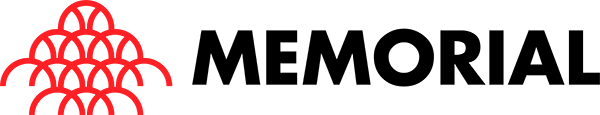COLUNA

Por Pedro Machado Mastrobuono
Presidente da Fundação Memorial da América Latina
Pós-doutor em Antropologia Social; Doutor em proteção ao Patrimônio Cultural; Advogado especializado em direitos autorais; e Ex-presidente do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)
A palavra que atravessa montanhas
Sexta-feira, 1 de agosto de 2025
Antes mesmo que eu pudesse escrever meu próprio nome, aprendi que existem palavras que não conhecem fronteiras. Palavras que não cabem nas divisões de um mapa, nem se reduzem à lógica das bibliotecas ocidentais. Palavras que não estão nos livros, mas que sobrevivem em cantos, sussurros, orações, conselhos, rádios de cozinha. Palavras que formam línguas, e línguas que formam mundos.
Na primeira infância, vivi no Peru. Era um menino ainda, e tudo me parecia maior do que eu. Inclusive os sons. Na casa onde morávamos, em Lima, havia um rádio que tocava sempre no fundo da casa. Não era em espanhol. Era em Kichwa, também grafado Quichua, conforme variantes ortográficas. E não vinha de Cusco nem de Puno, mas do Equador. Um sinal equatoriano, captado nas margens do Pacífico peruano, transmitindo numa língua viva, ancestral, compartilhada por povos que antecedem as nações e os tratados. Essa lembrança nunca mais me deixou.
Com o tempo, compreendi que aquele som era mais do que um idioma: era um corpo coletivo de memória. Um corpo que se move sem papel, sem vitrines, sem arquivos. A oralidade, tão frequentemente negligenciada pelos paradigmas do patrimônio, é, para muitos povos latino-americanos, a própria espinha dorsal da cultura. Ela é modo de preservar, mas também modo de criar, recriar e resistir.
O termo Kichwa é a forma usada no Equador para designar a variante local do Quechua. Em espanhol e no Peru, é comum a grafia Quichua, mas o alfabeto unificado equatoriano buscou uma escrita mais próxima da fonética original, condensando o idioma em 21 letras e três vogais (a, i, u), que, apesar da aparente simplicidade, desenham uma sonoridade fluida, quase líquida. Consoantes como ñ, ll, sh e ts deslizam como vento entre folhas de coca. Não é apenas uma forma de comunicar, é um modo de cantar o mundo.
Essa estrutura sonora ressoa nos huaynos andinos, nas canções de roda dos altiplanos, nos sopros dos sikus e das zampoñas que carregam a memória de montanhas e planícies. Cada fonema pulsa com um tempo ancestral. O Kichwa, como outras línguas ameríndias, embala os ritmos da vida, molda os timbres dos instrumentos, determina os intervalos. Ensina que há linguagens que não se dizem, são entoadas. Mais do que léxico, é ressonância. Mais do que comunicação, é rito.
Linguisticamente, o Kichwa faz parte da família Quechuan, originada no centro do Peru, com vestígios de proto-quechua datados de até 2600 AEC ((Antes da Era Comum), e expandida mais tarde pelo império incaico antes da chegada dos europeus. Hoje, tem entre oito e dez milhões de falantes, sobretudo no Peru, Equador, Bolívia e Colômbia.
Mas a história dos idiomas na América Latina é muito mais ampla do que os três nomes que o imaginário moderno costuma repetir: incas, maias e astecas. Essa tríade, embora importante, obscurece uma tapeçaria linguística e civilizatória muito mais rica. A América Latina pré-colombiana era composta por centenas de povos, cada qual com seus modos de vida, seus rituais e suas línguas.
Os Aymara, por exemplo, cujas palavras carregam ecos das águas do lago Titicaca, continuam falando uma língua aglutinante que resiste em mais de dois milhões de vozes espalhadas pela Bolívia, Peru e Chile. A tradição de Tiwanaku ainda reverbera nas formas de construir e entalhar a pedra, nos mantos cerimoniais tecidos em padrões que precedem os impérios. O Guarani, língua do braço tupi-guarani de grande vitalidade, é cooficial no Paraguai e falado por cerca de seis milhões de pessoas. É uma das poucas línguas indígenas das Américas com status oficial de Estado, convivendo com o espanhol nas ruas, nas escolas e nas canções, como nas modas de viola do sul brasileiro, onde o guarani também murmura.
O Nahuatl, língua dos povos nahuas, entre eles os mexicas, ainda é falado por mais de um milhão de pessoas no México contemporâneo e legou ao mundo palavras como abacate, chocolate e coyote. Mas há também línguas que não se tornaram palavras de dicionário, e, por isso mesmo, guardam segredos que só os iniciados compreendem.
Além dessas, há as famílias linguísticas maia, otomangueana, mixe-zoqueana, entre outras, faladas principalmente no México e na América Central. Os maias, por exemplo, desenvolveram uma escrita logossilábica de alta sofisticação. Zapotecas e olmecas possuíam sistemas protoescriturais. E mesmo no mundo andino, os quipus, cordões com nós, são hoje estudados como possíveis formas de escrita logográfica ou fonética. E há sinais, como os petroglifos dos mapuches e os entalhes dos chachapoyas, que desafiam ainda os paradigmas ocidentais de escrita. Nem tudo que se grava na pedra precisa ser lido: algumas imagens, simplesmente, se escutam.
A oralidade, no entanto, continua sendo o principal veículo da transmissão cultural de muitos desses povos. Trata-se de uma forma de conhecimento que escapa aos registros convencionais. É um patrimônio que não se fixa em vitrines nem se limita a arquivos. Vive no corpo, no gesto, na voz. E exige, de nós, uma escuta atenta, comprometida e ética.
Nem todas essas línguas dependem da escrita para existir, mas onde há escrita, houve também apagamentos. Durante a colonização, muitos sistemas fonéticos foram adaptados à força para o alfabeto latino. No Peru e na Bolívia, reformas ortográficas recentes buscam recuperar sons que haviam sido eliminados. Algumas grafias indígenas foram reconstruídas com apoio dos próprios falantes, numa tentativa de resgatar o que a ortografia colonial havia silenciado.
A presença contemporânea dessas línguas (Kichwa escutado no Peru, Guarani nas ruas do Paraguai, Nahuatl em vilarejos mexicanos, Aymara nos Andes) é prova de resistência cultural. No entanto, em muitas regiões, elas lutam para sobreviver à hegemonia do espanhol e do português. Iniciativas de ensino bilíngue, padronização ortográfica e capacitação de professores indígenas vêm fortalecendo essas línguas, especialmente quando conduzidas pelas próprias comunidades, com apoio institucional e respeito aos modos de saber locais.
No Memorial da América Latina, temos buscado tensionar essas questões com seriedade. Nascemos do sonho de Darcy Ribeiro, um pensador que compreendia o continente como uma unidade civilizatória feita de muitas matrizes. Por isso, entre nossos projetos, está o compromisso com a escuta e a valorização desses saberes orais, gestuais e simbólicos. Não apenas como expressões folclóricas, mas como epistemologias legítimas, complexas, vivas.
Quando me lembro daquela rádio em Kichwa, vinda do Equador e ouvida nas cozinhas peruanas, entendo que há sinais que ultrapassam fronteiras, montanhas, tratados. Há vozes que insistem em existir, mesmo quando a história oficial tenta esquecê-las. E talvez, neste exato momento, em alguma altitude da Cordilheira, ainda esteja no ar aquela mesma rádio. E talvez outra criança, em outro quintal, também esteja ouvindo. Também esteja sendo tocada por um idioma que não lhe ensinaram na escola, mas que ecoa como herança profunda. Como palavra que vem antes da fronteira.