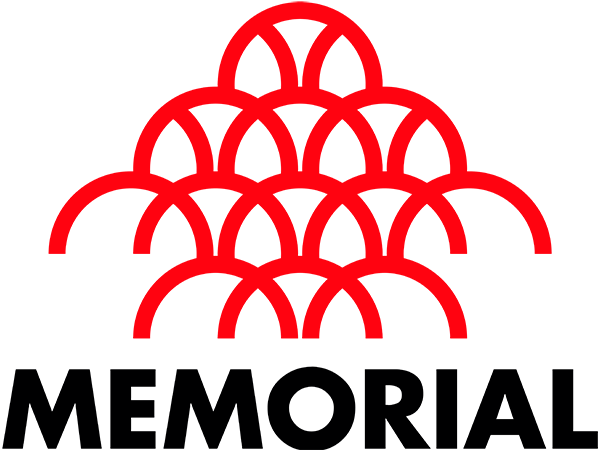DOSSIÊ POVOS ORIGINÁRIOS

Foto: Pexels
A resistência linguística é um território inegociável
Línguas indígenas persistem no Brasil e na América Latina entre políticas de revitalização, transmissão intergeracional e a força de quem segue nomeando o mundo
Por Isabella Vilela Cunha
Nenhum mapa traduz o que a língua guarda, pois é nela que um povo traça suas fronteiras de memória e pertencimento. Nela, residem os modos de compreender o mundo, a história transmitida e as formas de relação com a natureza e o sagrado. Na América Latina, mais de 500 línguas indígenas persistem, muitas delas faladas por comunidades que resistem à homogeneização cultural imposta por mais de cinco séculos de colonização e violência. Cada uma dessas línguas carrega uma visão de mundo complexa e um acervo de conhecimentos que se perde irremediavelmente com o seu silenciamento.
O panorama é de risco agudo, como aponta o relatório Diversidade linguística indígena: Estratégias de preservação, salvaguarda e fortalecimento, elaborado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), publicado em 2020. Os dados expõem que cerca de 75% das línguas indígenas no Brasil são faladas por menos de 500 pessoas, e um terço tem menos de 100 falantes. Tais números dimensionam uma crise cultural e de direitos humanos e reforçam a urgência em elevar a preservação das línguas originárias ao status de política de Estado prioritária e responsabilidade coletiva. O estudo sistematiza reflexões de pesquisadores e lideranças, detalhando os fatores que sustentam ou dificultam a vitalidade dessas línguas, da transmissão intergeracional ao papel decisivo das escolas e da efetividade das políticas públicas.
Onde há ameaça, emerge a resistência articulada e a reinvenção. Em diversas partes do continente, comunidades, educadores e instituições estão reativando processos vitais de ensino, documentação e soberania linguística. A produção de materiais didáticos autênticos, dicionários e os chamados “ninhos linguísticos” compõem um mosaico de ações que afirmam a autodeterminação dos povos. Essa multiplicidade de iniciativas é sustentada, sobretudo, pela força inabalável das lideranças e falantes que seguem nomeando o mundo em suas próprias línguas, garantindo a continuidade de seus territórios existenciais.

Foto: Pexels
A sala de aula como território da memória
O historiador Giovani José da Silva, professor da Universidade Federal do Amapá e coautor do livro Histórias e culturas indígenas na educação básica (2018), enxerga a educação como um dos campos decisivos para o fortalecimento das línguas e culturas originárias. Doutor em História Indígena pela Universidade Federal de Goiás, ele explica que a ideia do livro nasceu da ausência de materiais acessíveis aos docentes. “Sentia falta no mercado de um livro que falasse diretamente com professores. Queria muito ter uma obra que fosse uma espécie de referência, não para ter a última palavra, mas para dialogar com docentes”, lembra.
A obra, escrita em parceria com a professora Anna Maria Ribeiro da Costa, surgiu após ambos terem lecionado em aldeias, sendo ele com os kadiwéu, no Mato Grosso do Sul, e ela com os nambiquara. Dessa vivência, surgiu o desejo de escrever algo que traduzisse o cotidiano da sala de aula indígena e aproximasse os professores da realidade dos povos originários. “Quem é professor sabe se comunicar com outro professor, e foi daí que nasceu esse livro”, diz.
O alcance da publicação se insere no contexto da Lei 11.645/2008, que tornou obrigatório o ensino de história e culturas indígenas na educação básica. “A lei completa 17 anos, ou seja, é nova e ainda precisa ser realmente implementada nas escolas. O principal desafio é produzir mais materiais”, afirma. Segundo ele, o impacto foi relevante principalmente nas licenciaturas. “As formações de professores foram muito falhas quanto à temática indígena. Hoje, felizmente, as universidades já incluem disciplinas como História da África, História Indígena ou Educação para as Relações Étnico-Raciais.”
Giovani participou também da coordenação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e constatou avanços e lacunas. “Das 12 coleções avaliadas, quatro ainda eram muito frágeis quanto ao tratamento das histórias e culturas indígenas. Muitas continuam a tratar os indígenas apenas no passado, como se não fossem contemporâneos.” Para ele, o problema começa nos estereótipos com que muitos professores cresceram. “Nos anos 1970, convivi com imagens de cocares e arco e flecha. Hoje precisamos ajudar os docentes a se desvencilhar disso e a se comunicarem bem com os alunos, sem reproduzir inverdades”, aponta.
Com 34 anos de magistério, ele segue conciliando ensino e pesquisa, agora também na área de teatro. “Tenho uma especialidade que me é muito própria, eu consigo falar de pedagogia sem aborrecer o leitor. A ideia é tratar da temática indígena sem dificultar o acesso à informação.” Sua trajetória reflete a necessidade de um ensino que supere o exotismo e reconheça os povos indígenas como parte principal da história e da cultura brasileira. “Não escrevo sobre os indígenas, mas para professores que desejam trabalhar o tema. O que está ali é a minha experiência, e a da Ana Maria, com os povos com quem convivemos”, conclui.
O retrato institucional das línguas no Brasil
O Iphan é hoje a principal instituição pública brasileira voltada à identificação e valorização das línguas como patrimônio cultural imaterial. O relatório Diversidade linguística indígena: Estratégias de preservação, salvaguarda e fortalecimento, principal fonte desta matéria, reúne dados, análises e recomendações formuladas a partir do I Encontro Internacional sobre Diversidade Linguística Indígena, realizado em Brasília em 2019. O documento contextualiza a urgência global do tema — a ONU calcula que metade das línguas do planeta poderá desaparecer até 2050 — e identifica o que fortalece ou enfraquece as línguas indígenas na América Latina.
Em resposta enviada à Memorial Cultural, a equipe técnica do Iphan explicou que as propostas apresentadas no encontro foram definidas pelos próprios participantes indígenas, que refletiram sobre os fatores de fortalecimento e de risco e, a partir disso, formularam estratégias. Entre as ações prioritárias estão a realização de inventários sociolinguísticos, a criação de um sistema online do Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL) e o apoio à cooficialização de línguas em estados e municípios. O sistema, atualmente em desenvolvimento, deverá entrar em operação em 2026 e permitirá que as informações sejam atualizadas e acessadas por comunidades, pesquisadores e gestores públicos.
Segundo a coordenadora substituta de Diversidade Linguística do Iphan, Thaísa Yamuie, a vitalidade de uma língua é medida por critérios como a taxa de transmissão intergeracional, o uso social cotidiano, o envolvimento das escolas e a percepção positiva da própria comunidade. “Em alguns casos, como o de línguas do Nordeste, estão acontecendo processos de retomada e revitalização, possibilitando que línguas adormecidas sejam restabelecidas”, explicou. Além de inventariar, o Iphan tem apoiado publicações de dicionários, gramáticas, livros de histórias e gravações em áudio, além de promover encontros de professores e intérpretes de línguas indígenas, como o de Roraima, que reúne centenas de educadores anualmente.
O relatório destaca que, mesmo diante de um histórico de descontinuidade institucional, houve avanços recentes. A partir de 2023, o Brasil passou a contar com o Departamento de Memórias e Línguas Indígenas, vinculado ao Ministério dos Povos Indígenas, e com a recriação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) no Ministério da Educação. “Essas estruturas estão fomentando ações como a criação de uma Universidade Indígena e a retomada de políticas de educação intercultural”, relata. No campo jurídico, a cooficialização de línguas é considerada um dos instrumentos mais eficazes de preservação, por garantir que documentos oficiais e serviços públicos possam ser emitidos em língua indígena. O órgão atua, por exemplo, no processo de cooficialização do Guarani M’bya em São Miguel das Missões (RS).
A publicação de 2020 mostra também a dimensão continental do desafio. A América Latina abriga 567 línguas e 626 povos indígenas, segundo dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas (Filac). Desse total, mais de cem são línguas transfronteiriças, como o garífuna, falado em Honduras, Nicarágua, Guatemala e Belize, ou o quechua, presente em seis países andinos. A diversidade é vasta, mas as ameaças são semelhantes, como a homogeneização cultural, o racismo linguístico e a ausência de políticas sustentadas de ensino e documentação. Como sintetiza o relatório, com cada língua que desaparece, findam formas de pensar e compreender o mundo.
Honduras e o horizonte garífuna
De Honduras vem uma história exemplar de resistência linguística. A coordenadora Cintia Marisela Bernardes García, pertencente à nação garífuna, atua à frente da Unidade de Educação Plurilíngue e Multicultural, vinculada à Secretaria de Culturas, Artes e Patrimônios dos Povos de Honduras. É a primeira vez que o país conta com um setor governamental dedicado às línguas originárias. “Em Honduras convivemos com uma grande riqueza linguística e cultural. Nove povos são oficialmente reconhecidos, dos quais sete conservam suas línguas vivas”, explica. Entre eles estão o chortí, tolupán, pech, tawahka, miskito, garífuna e o creole, falado nas Ilhas da Baía.
Cada língua, diz ela, tem o seu próprio território, sua história e sua forma de nomear o mundo. Com as migrações internas e externas, as línguas viajam com as pessoas, atravessam cidades e recriam espaços de pertencimento. “As línguas já não estão confinadas aos territórios, mas viajam com as pessoas, se misturam, se adaptam. E nós, nos diferentes espaços onde estamos, continuamos nomeando múltiplos lugares em nossas línguas”, afirma Cintia. É por isso que, segundo ela, costumam repetir uma frase que se tornou lema entre as comunidades: “Nossas línguas não morrem enquanto houver alguém com quem possamos falá-las”.
A coordenadora destaca o garífuna como um caso singular. É uma língua indígena e afrodescendente falada por uma população negra, resultado da fusão entre raízes arauaques, caribes e africanas. O idioma é falado também em países vizinhos e em comunidades da diáspora nos Estados Unidos e Europa. Outras, como o tol, o tawahka e o pech, enfrentam risco extremo de extinção. “Somos uma das poucas populações negras cuja língua é indígena. É o momento de documentar cada uma das variantes dessas línguas antes que desapareçam”, alerta.
Entre os principais obstáculos, Cintia cita a discriminação linguística, a falta de materiais educativos e o predomínio do espanhol como língua de prestígio. “Das 36 horas semanais de aula, mais de 33 são em espanhol. As duas horas dedicadas à língua materna acabam se limitando ao vocabulário básico.” A migração e o avanço das igrejas sobre as práticas tradicionais também afetam a transmissão intergeracional. “Quando as línguas morrem, ou quando se rompe a conexão entre gerações, perde-se o caminho que leva ao destino. É como se um mapa fosse apagado”, diz.
Mesmo assim, há uma frente de resistência em curso. Em Honduras, jovens têm utilizado música, literatura e redes sociais para revitalizar o uso cotidiano das línguas. A unidade coordenada por Cintia promove casas ancestrais, concursos literários e cursos de formação para professores e promotores culturais. Um anteprojeto de lei propõe instituir o Decenio Nacional das Línguas, com foco na formação de intérpretes e na inserção das línguas em serviços públicos. “As línguas são tesouros, veículos de comunicação, mas também muito mais do que simples instrumentos, elas são a coluna vertebral dos nossos saberes ancestrais e da nossa identidade coletiva”, conclui a coordenadora.