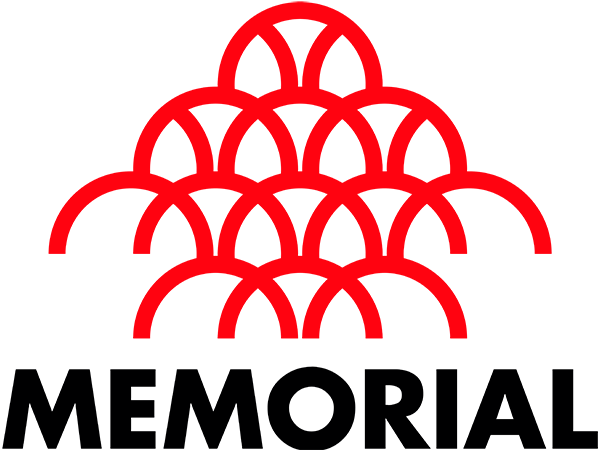PERFIL

Foto: Divulgação
A dor como idioma secreto
Primeira latino-americana a vencer o Nobel de Literatura, Gabriela Mistral fez da perda, da culpa e do amor escondido o coração de sua poesia
Por Gustavo Ranieri
Gabriela Mistral está sentada perto da janela, com os ombros curvados como quem se defende do próprio corpo. A luz da Califórnia entra sem cerimônia, espalhando poeira dourada sobre as cartas empilhadas, os papéis com anotações, os livros abertos. Ela escreve com pressa, mas sem destino. Já não é uma carta oficial, tampouco um poema. É só uma tentativa de manter a mente ocupada, como ela própria teria confessado uma vez: “Quando não escrevo, fico conversando comigo mesma. Isso é perigoso”.
Estamos no começo dos anos 1950 em Montecito, um bairro da cidade costeira de Santa Bárbara, na costa central da Califórnia. Gabriela, cujo nome de batismo é Lucila Godoy Alcayaga, vive ali como cônsul de Los Angeles, mas há muito tempo deixou de ser diplomata de verdade. O posto é mais um abrigo do que um cargo. Ela tem sessenta e poucos anos, mas parece mais velha. O rosto que um dia o Chile estampou em selos agora se mostra sempre cansado. Há dias em que ela quase não fala. Quando fala, é em sussurros. Ou para Doris Dana, a jovem norte-americana com quem vive e que lhe serve de secretária e confidente.

Foto: Divulgação
Ela ganhou o Nobel de Literatura em 1945. Primeira escritora da América Latina a receber o prêmio. Virou símbolo nacional. Mas ali, naquela casa afastada, ninguém a trata como um monumento. É só Gabriela. Ou Lucila. Ou “la Mistral”, quando está de mau humor. “Sou uma mulher de muitos nomes e poucos lugares”, disse certa vez, meio brincando, meio devolvendo uma ferida.
O que impressiona ali não é a fama, é o silêncio. Gabriela carrega um silêncio espesso, feito de perdas e coisas que nunca se disseram. O resto foi poesia. O resto foi fuga. “Minha alma está cheia de chagas tal como o corpo de Cristo. Mas ninguém as vê”, ela escreveu em uma carta datada de 1950. Estava falando dela mesma, mas poderia ser o epitáfio de toda a sua obra.
Falar de Gabriela Mistral é falar de uma mulher que não teve medo de amar, mas teve medo de dizer. Teve medo de perder e mesmo assim perdeu tudo. Ela dizia que era mãe sem ter parido. A maternidade, para ela, não foi biológica. Foi existencial. Escreveu para os órfãos, os pobres, os que ninguém quis ouvir. Dizia que sua missão era cuidar dos “filhos da fome e da dor”. E cuidou. Em cartas, poemas, discursos, em todos os lugares onde falava em nome de uma infância invisível.
Mas havia um menino que não era invisível. Era Yin Yin, apelido de Juan Miguel Godoy, que foi entregue a Gabriela Mistral por um parente seu e pai biológico do menino, quando ele tinha apenas um ano de idade. A escritora e Yin Yin viajaram juntos por anos, de país em país, de cargo em cargo. Ela cuidava dele com um amor obcecado, quase febril. Havia bilhetes, presentes, broncas, conselhos. Yin Yin era o centro de tudo.
E então, um dia, ele se matou. O suicídio, por ingestão de veneno, aconteceu em 1943, no Brasil, mais precisamente em Petrópolis, onde a autora vivia na época como cônsul. Ele tinha 17 anos. A notícia foi um golpe tão profundo que Gabriela nunca mais falou sobre o assunto em público. Não deixou ninguém comentar. Em carta à amiga Palma Guillén, escreveu apenas: “Já não sou a mesma. Eu me quebrei por dentro”. E depois: “Nem se queira tenho lágrimas”.
Os poemas que vieram depois não falavam diretamente de Yin Yin. Mas a sombra dele está em tudo. Nos versos de Balada, ela escreve: “Se fue, se fue con el alma ciega, se fue sin verme siquiera…”. É um poema sobre abandono, mas também sobre culpa. Como se ela soubesse que o mundo que ela ofereceu a Yin Yin era feito de deslocamentos que ele não soube atravessar.
Muita gente tentou decifrar a relação entre os dois. Houve quem dissesse que ele era, na verdade, seu filho biológico escondido. Nunca ficou claro. O que importa é que ela o perdeu e depois dele, perdeu o gosto de permanecer em qualquer lugar. A dor virou companhia. E ela começou a escrever como quem empurra um corpo ferido morro acima. Sem esperança de cura, só para não apodrecer parada. “Fiquei com a palavra inútil e o coração cheio de gritos surdos”, escreveu certa vez.
Uma mulher sem pertencimento
Gabriela Mistral sempre pareceu fora do lugar. Em cada fotografia, o corpo rígido, o olhar firme demais, como quem se recusa a se explicar. A escritora não se encaixava no molde que o mundo oferecia às mulheres do seu tempo. Nem no Chile, nem fora dele. Tinha algo de professorinha do interior e, ao mesmo tempo, de embaixadora do impossível.
Os que a conheceram diziam que sua presença era imponente. Alta, de rosto forte, traços andinos, voz grave. Uma mulher que ocupava o espaço sem pedir licença, mas também sem encontrar onde repousar. Nos anos 1930, quando viajava de navio entre postos consulares, a chamavam de “a poeta de Deus”. Mais tarde, “a mãe dos pobres”. Nenhum desses títulos parecia lhe servir. “Sou uma mulher de ninguém e de todos”, escreveu certa vez. Talvez tenha sido isso mesmo: uma mulher sem pertencimento.
Gabriela nunca casou, nunca assumiu nenhum relacionamento. Suas companhias mais constantes foram mulheres, amigas, colegas de trabalho, discípulas. Algumas viraram parte essencial da sua vida. Palma Guillén, mexicana, professora e diplomata, foi uma. E depois, Doris Dana.
Doris chegou quando Gabriela já era uma mulher madura, cansada, consagrada. Jovem, norte-americana e idealista, Doris viu em Mistral uma mestra, talvez uma figura maternal. Mas o que cresceu entre elas escapava a qualquer definição simples. As cartas entre as duas, hoje guardadas na Biblioteca do Congresso, em Washington, são cheias de ternura. Em uma delas, Gabriela escreve: “Te abraço primeiro com a alma, e depois com os braços”. E noutra: “Teu sorriso é meu alimento. Não me negues isso, minha vida”.
A descoberta dessas cartas trocadas só foram reveladas em 2006, após a morte de Dana, o que reacendeu um debate, talvez inútil, sobre a orientação sexual de Gabriela Mistral. A verdade é que a chilena nunca rompeu a fronteira do não dito. Quando o assunto aparecia em público, quando surgiam rumores, cochichos, ela se calava. “Sou uma mulher que não tem lugar. Não pertenço nem ao normal nem ao proibido”, anotou em uma carta a Eduardo Frei Montalva, em 1949. Essa frase resume bem a solidão dela.
Gabriela viveu nas frestas. Sua poesia também. Nos poemas de amor, o gênero desaparece. Não há “ele” nem “ela”. Só um “tú” que é presença e ausência ao mesmo tempo. Como em El amor que calla: “Si yo te odiara, mi odio te daría / en las palabras, rotas de furor. / Pero te amo y no te lo confieso / sino con un silencio ensordecedor”.
Imaginamos Gabriela à noite, sozinha num quarto de hotel qualquer, escrevendo à luz amarelada de uma lâmpada fraca. A caligrafia firme, os óculos escorregando no nariz, o rosto cansado. Ela pausa entre uma frase e outra, olha pela janela, e por um instante parece ouvir o eco do próprio nome. Não o nome de poeta, nem o nome oficial, mas aquele mais íntimo, o que só Doris chamava: “Gabo”.
Sua identidade, feita de amor, culpa, desejo e fé, foi também seu exílio. E talvez por isso, em cada verso que escreveu, há sempre a voz de quem fala de dentro de um quarto fechado, para alguém que talvez nunca vá ouvir.
O peso de ser símbolo
O Chile sempre precisou de um rosto para chamar de pátria. Quando Gabriela Mistral recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1945, o país enfim encontrou esse rosto: a professora pobre do interior, a mulher simples, religiosa, a que subira do nada até a glória. O governo mandou erguer monumentos, imprimir selos, dar seu nome a escolas e avenidas.
Mas a mulher que vivia atrás desse retrato não era tão fácil de celebrar. Enquanto o seu país natal erguia estátuas, Gabriela seguia mudando de cidade em cidade, como Nova York, Veracruz, Rapallo, Montecito, sem nunca parar muito. “Não tenho casa. Minha casa é onde me dão uma mesa para escrever”, registrou em um bilhete de 1951.
Ela não parecia saber o que fazer com a fama. Não era afeita a cerimônias. Em entrevistas, respondia curto, com ironia. Uma vez, um repórter perguntou o que sentira ao ganhar o Nobel. Ela respondeu: “Frio”. E ficou em silêncio.
Era assim. As pessoas queriam símbolos. Ela só tinha verdades desconfortáveis. Falava da pobreza, do abandono das crianças, da América Latina esquecida, temas que pareciam pequenos para a Europa elegante que a premiava. Mas para ela, não havia nada mais urgente. A consagração internacional não a libertou. Tornou-a ainda mais prisioneira da imagem que os outros criaram. A “poetisa-mãe”, a “educadora santa”, a “voz da ternura”. Nenhum desses rótulos dava conta da mulher que passava as noites acordada, escrevendo cartas cheias de saudade, ou dos poemas de amor que jamais assinaria com o nome de quem amava.
O retorno ao silêncio
Gabriela está sentada à mesa, diante das cartas empilhadas. O cabelo grisalho preso de qualquer jeito. Escreve devagar, como quem desenha o próprio cansaço. Naquele tempo, Doris já cuidava dela quase em silêncio. Fazia o chá, organizava os papéis, lia em voz alta os trechos que a poeta pedia. Era como se a escritora tivesse se tornado personagem de si mesma, uma mulher que já não pertencia nem à vida, nem à literatura, só ao espaço entre as duas.
Dias antes de morrer, em janeiro de 1957, ela ditou uma frase curta, quase uma despedida: “Eu não tenho mais que palavras. Às vezes, nem isso”. Morreu longe do Chile, mas o país a reclamou. O corpo foi levado de volta, cercado por bandeiras e discursos. A multidão gritava o nome que ela própria sempre teve dificuldade de usar, Gabriela Mistral, como se chamasse de volta uma santa.
Mas ao olhar para ela ali, imóvel, não dá para deixar de pensar que talvez o que a fez tão grande não tenha sido o heroísmo, nem o dom, nem a glória. Foi o vazio. A solidão que ela carregou e transformou em palavra. Porque, no fim, Gabriela Mistral não escreveu para ser entendida. Escreveu para não desaparecer.
E é isso que fica quando o texto termina, quando a luz da janela se apaga e o papel ainda está quente de tinta: o eco de uma mulher que viveu entre o grito e o silêncio, e fez do silêncio a forma mais profunda de dizer.