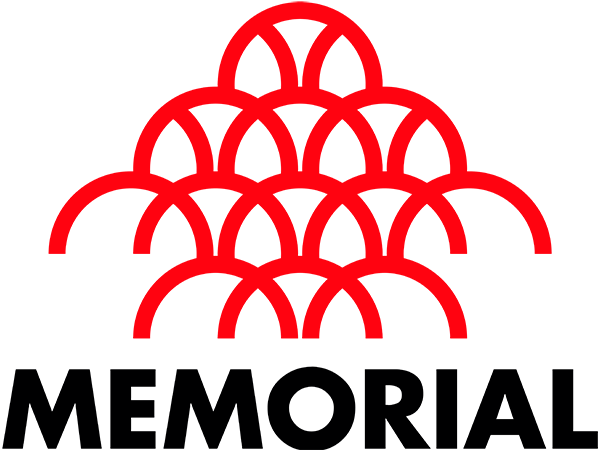ENTREVISTA

Pra alegrar os tristes corações
Entre a herança punk e a poesia latino-americana, Sebastián Piracés transforma limitação em estética e faz da alegria um ato político em sua nova fase solo
Por Gustavo Ranieri e Isabella Vilela Cunha
Fotos: Katiuska Sales
Pequeno, barulhento e punk, o Bar do Zé, em Campinas, foi a grande escola de liberdade de Sebastián Piracés. Filho de pai chileno, nascido no México e migrado para o Brasil aos 12 anos, mais especificamente em Valinhos, no interior paulista, era para essa casa noturna que ele escapava escondido aos finais de semana para viver sua educação sentimental e poder extravasar os conflitos que vivia em um processo difícil de adaptação a um novo país e língua.
O bar, que só permitia a entrada de maiores de idade, tinha uma brecha: quem tocava, entrava. E foi assim, aos 14 anos, que Sebastián e um grupo de amigos igualmente adolescentes montaram sua primeira banda punk. “Lá encontrei a contracultura, um lugar que acolheu minhas inquietações e me recebeu de braços abertos”, conta ele, que travou contato com a música logo cedo, aprendendo piano clássico aos 6 anos e chegando a fazer parte de uma orquestra, ainda durante a infância.

Foto Katiuska Salles
Historiador por formação, Sebastián aprendeu que o confronto é tão necessário quanto o abraço. “Um abraço não só de aconchego, mas um abraço que compreende. Mesmo com nossas diferenças, a compreensão é o que nos permite viver em sociedade.” E esse sentimento está tão enraizado nele que foi determinante na criação, em 2013, junto de seu irmão, Mateo Piracés, da Francisco, el Hombre, banda que nasceu da crença absoluta no coletivo e, embora tenha suas raízes fincadas na cena independente, alcançou o mainstream. “Um coletivo forte é feito de indivíduos fortes”, afirma.
Meses após anunciarem uma pausa por período indeterminado, Sebastián segue agora em carreira solo, num mergulho no individual, sem contudo abandonar sua convicção no coletivo. Seu novo projeto, Brasilatinoamericano, foi produzido com os recursos que tinha à mão. As vozes foram gravadas em quartos de hotel ou dentro de vans, a edição aconteceu no chão do aeroporto e parte do que se escuta no álbum são samples reciclados. Nas faixas, a alegria, que sempre o acompanhou, reaparece como gesto político, como um canto de cura e celebração diante das dores e contradições do continente.
Entre acordes, versos escritos em cadernetas e o barulho vivo de sua casa-ateliê em São Paulo, lar que compartilha com sua esposa, a multiartista e pesquisadora Helen Fernandes, mais conhecida como Malfeitona no Instagram, Sebastián continua sendo o mesmo: o garoto punk que acreditava que a arte podia mudar o mundo e que ainda acredita.
Você tem uma história muito particular, pois nasceu no México, vive desde adolescente no Brasil e é filho de pai chileno. São três países que se cruzam em você, além dos tantos outros que percorreu com a música e a arte. Então, na sua percepção, quais dos elementos da cultura desses países mais te impulsionam e mais promovem a conexão latino-americana?
Sem dúvida, a música. Quando eu era pequeno, essa coisa de ficar mudando de país me afetava por causa das línguas. Desde cedo encontrei refúgio na única linguagem comum a todos os lugares: a música. Os elementos que vivi, das minhas raízes chilenas, da vivência mexicana, da chegada ao Brasil e da tomada de consciência como ser latino-americano, estão todos na música. E, embora pouca gente saiba, também na literatura. Eu escrevo muito, leio muito. É difícil dizer exatamente o que me define, mas posso te pontuar, por exemplo, que o novo folclore chileno de Violeta Parra e Victor Jara está presente na minha poesia e no meu pensamento. Também não tem como eu viver sem o drama do cancioneiro mexicano. Quem me conhece sabe que as bandeiras que levanto são orientadas por uma resistência alegre e festiva, que vêm das minhas raízes brasileiras. Querendo ou não, sou fruto de um princípio de globalização que se manifesta em mim por meio da arte, da música e da literatura.
Quando você compõe, então, sente que carrega memórias coletivas, histórias e sentimentos desses povos que migraram e resistiram?
Com certeza. Não tem como ser diferente. Nós somos a continuação dos nossos antepassados. Quando componho, sinto meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, meus primos, meus vizinhos, meus amigos, sinto as opiniões e complexidades de cada um. Eu me imagino nos lugares, lembro o que senti quando estava lá e me reconecto com aquele momento. Isso é subjetivo, claro, mas é real. Por exemplo, agora estou lendo Poemas y antipoemas, de Nicanor Parra, irmão mais velho de Violeta Parra. É uma poesia chilena dos anos 1950, a década em que meu pai nasceu. Ao ler, eu me conecto com ele, com o contexto histórico que me contou, com meus avós. E quando vou escrever ou compor, tudo isso está em mim. Somos a continuação de quem veio antes. Quando digito, vejo a mão do meu pai nos meus dedos. É essa a manifestação.
Mas o que de fato é cultura popular?
Rapaz, você está me fazendo uma pergunta do tamanho de um continente (risos). Eu acho o ser humano fantástico. Tenho problemas com pessoas, mas o ser humano é maravilhoso. E uma das coisas mais fascinantes do ser humano é essa ânsia que temos de nos comunicar, de manifestar, de expressar o que sentimos. De fazer arte, cantar, pintar, enfeitar o entorno, reagir ao que acontece. Enquanto animais que sentem, temos essa tecnologia incrível da comunicação sensível, criativa. E isso gera movimento coletivo. Definir o que é cultura popular é quase tentar entender por que sentimos e por que insistimos em nos comunicar, verbal ou não verbalmente, com sons e cores. É algo que está no DNA humano. A cultura popular, que é de todos, que vem de baixo, tem intenções e contextos. E muitas vezes esse contexto é o da resistência. Quando algo me oprime, me insatisfaz, me dói, eu preciso me manifestar. E encontro no canto do outro o consolo de saber que não estou só. Portanto, as manifestações culturais são pontos de encontro onde a gente define identidades coletivas. E, quando manifestamos uma identidade em comum, criamos também uma forma de nos defender, de afirmar nossa existência diante das forças que tentam oprimir. É uma pergunta existencial mesmo, porque a cultura popular é algo que muda de lugar para lugar, mas o importante é que vem de todos, de baixo, e pertence a todos.

Foto Katiuska Salles
Mas podemos dizer que a cultura popular é, de fato, o que mais nos integra enquanto continente?
Acho que sim, mas com nuances. Acredito que somos formados a partir do nosso contexto econômico e sociopolítico. Pensando na América Latina, nós temos uma história em comum, tal como disse Galeano em As veias abertas da América Latina. Somos países colonizados, atravessados por processos de exploração e choques culturais. Fomos sugados economicamente durante séculos e isso nos colocou em posições semelhantes, conectadas por uma condição histórica. Fomos colonizados por dois “paizinhos” da Península Ibérica, que já eram vizinhos e se chocavam culturalmente. Esses dois países desencadearam o processo colonial que resultou nos territórios onde vivemos hoje. Então, sim, a cultura nos permeia, mas ela é consequência de uma história em comum. O que nos conecta não é apenas a cultura, é a condição histórica compartilhada, e a cultura é a manifestação viva desse ponto em comum que percorre toda a América Latina.
Tudo o que nos conta são as sementes que resultaram na criação da Francisco, el Hombre?
Todo o questionamento, a vivência na cena independente e a contracultura são as sementes do pensamento que formaram a Francisco, el Hombre. Porque, embora a banda tenha alcançado o mainstream, dialogado com a indústria e conquistado grandes números, suas raízes sempre foram antissistêmicas, questionadoras, punk. Nossa relação nunca foi hierárquica. Tínhamos muitos debates teóricos sobre como nos relacionar profissionalmente, porque nossa intenção nunca foi “ter uma banda de sucesso”. A ideia era mudar o entorno e, para mudar o mundo, você começa pela comunidade. Essa comunidade eram nossos amigos, nossa família e os bares próximos. Criar um coletivo musical era criar uma comunidade que espalhasse uma mensagem e, se iríamos espalhar mensagens, precisávamos também estar em constante transformação.
Mas como realmente a banda foi criada?
Quando nos perguntam como começou a banda, existem muitas versões, todas verdadeiras. Sempre tivemos o sonho de viver de música, sim, mas também o desejo de criar uma sociedade alternativa dentro de nós mesmos. Era um sonho lindo, e nada melhor do que a juventude para colocá-lo em prática. Ao mesmo tempo, Francisco, el Hombre também nasceu de um lugar de dor. Havia tristeza, depressão, momentos muito difíceis. É um assunto delicado, mas importante. Quando o coletivo surgiu, muitos de nós estávamos atravessando processos profundos de sofrimento. Éramos cinco, todos em fases diferentes, lidando com depressões, com a intensidade da vida noturna, com o uso de substâncias que, embora pudessem expandir a consciência, também testavam nossos limites. E, como jovens, a gente tensionava mesmo esses limites, fazia parte do crescimento. A música, nesse contexto, foi acalanto. O que começou como desajuste virou cura. Misture tudo isso, a recusa ao sistema, o desejo de aprender com as pessoas, de criar comunidade e de fazer isso através do que sabíamos fazer melhor: música. Isso é o que nos formou.
Seis meses após o show de despedida da banda, que anunciou uma pausa indeterminada depois de 11 anos de atividade, o que te vem de pensamento ao refletir sobre a Francisco?
Hoje, quando olho o mundo pelas janelas virtuais das redes sociais, fico reflexivo. Vivemos num tempo em que até as tentativas de criar comunidade são egocêntricas e ilusórias. E agora, olho para trás e vejo aquele bando de jovens malucos e idealistas que éramos com muito carinho. Tivemos erros, claro, somos humanos. Mas é bonito pensar que conseguimos propor algo raro e necessário: um coletivo artístico que acreditava na utopia. Coletivos e comunidades alternativas sempre foram vistos como sonhos ingênuos, mas são sonhos necessários. Agora, ao encerrar esse capítulo coletivo e iniciar uma carreira solo, eu me encontro diante de dúvidas filosóficas. Vocês sabem que adoro ler, pensar e estudar. E hoje me pergunto: como me projetar como indivíduo em uma sociedade que precisa desesperadamente de comunidade?
Essa resposta é maravilhosa, e nos leva justamente ao ponto seguinte. Como é seguir carreira solo depois de tudo isso?
É um equilíbrio fino entre o desenvolvimento da comunidade e o desenvolvimento do indivíduo. Depois de 20 anos vivendo o coletivo, sinto que preciso de um tempo para me entender como indivíduo, não por descrença no coletivo, muito pelo contrário. Acredito que um coletivo forte é feito de indivíduos fortes. Na Francisco, el Hombre, as coisas aconteceram rápido, como bola de neve. Não havia tempo para respirar. Era lindo e exaustivo. Uma banda independente, politizada, com ideais firmes, que conseguiu se sustentar financeiramente, isso é uma conquista enorme. Mas custou caro, custou saúde. Quem acompanha a banda sabe que passamos por processos desafiadores por causa da pressão. Não dá para correr duas maratonas seguidas. Às vezes é preciso frear, não para parar, mas para se reencontrar. Estamos precisando nos entender como indivíduos para continuar com coerência. Eu ainda estou no início dessa jornada, tenho muito o que aprender. Se você me fizer essa mesma pergunta daqui a dez anos, a resposta será diferente.

Foto Katiuska Salles
Continuamos a viver em um mundo polarizado, mas a arte, especialmente a música, ainda parece ser o único espaço onde essa divisão não existe. Você sente isso?
Totalmente. A polarização, o dividir para dominar, é algo interessante apenas para quem está no poder. Para nós, cidadãos, pessoas comuns, ela é destrutiva. Quando a Francisco começou, nossa ideia era encontrar uma música, uma mensagem que passasse o que acreditávamos, mas de forma convidativa. A música tem esse poder de romper barreiras de resistência dentro da cabeça, para mensagens que às vezes a gente não quer ouvir. Se eu chego apontando o dedo na cara de alguém criado em outro contexto, que pensa diferente de mim, eu crio afastamento. E isso não me interessa, mesmo que seja mais fácil e gere aplauso entre quem já concorda comigo.
A Francisco, el Hombre tocava para agregar, é isso? E essa continua sendo sua intenção em carreira solo?
Nossa busca era essa. No dia do impeachment da Dilma, durante a votação, subimos ao palco para tocar em uma praça pública do interior de São Paulo. O clima já era tenso, havia no público pessoas vestidas de verde e amarelo, comemorando o impeachment, e outras que estavam tristes, indignadas. Era um show gratuito, todos estavam lá. Naquele momento, eu sentia o peso da história sem perceber sua dimensão. E então, no meio do show, fiz o que aprendi com a minha mãe, algo cafona, mas sincero: propus um abraço coletivo. Eu acreditava, e ainda acredito, que o abraço é revolucionário. Vi pessoas que, anos depois, talvez se odiassem nas redes sociais, se abraçando com um sorriso. Olha como a música é poderosa: ela cria pontes, ela suspende muros por instantes. Mas é claro que há momentos em que é preciso tensionar, apontar o dedo, radicalizar, porque esse também é o papel do artista: levar as estruturas ao limite para que algo se mova.
Esse abraço coletivo explica porque a alegria é uma emoção tão presentes nas suas músicas, como se nota no seu atual projeto musical, Brasilatinoamericano.
Sim, justamente por isso. A depressão nos ensina o valor da alegria. Para compreendê-la, é preciso antes conhecer a tristeza. Muitas das pessoas mais alegres que conheço defendem a alegria porque sabem o quanto ela é essencial. Sou uma pessoa que sente muito. Não sou feliz o tempo todo. Entendo a tristeza e, talvez, me conecte mais facilmente com ela do que com a felicidade. Mas sei o poder da alegria e promover felicidade é, para mim, uma missão. Foi pensando nesse poder da música e também nas perseguições que sofremos devido à vontade de despolarizar e de dialogar, que decidi cantar sobre a alegria. Como dizem os zapatistas no México, é preciso criar “um mundo de muitos mundos”. E a alegria é uma dessas pontes.
Essa alegria é inegavelmente um traço latino.
Totalmente. A gente celebra até a dor. E isso é lindo. No Brasil, na Colômbia, no México, cada país tem seu ritmo, mas a essência é a mesma: brindar à vida.
E se você tivesse que explicar a um estrangeiro o que é ser latino-americano só por meio de uma expressão popular ou de uma música, qual escolheria?
O que é o que é?, do Gonzaguinha. Foi uma das primeiras músicas brasileiras com que tive contato quando cheguei aqui. “Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar…”, essa canção tem, para mim, o espírito latino-americano. A gente tem sede de vida. É isso. A cultura popular é a manifestação dessa sede, desse desejo de viver, de sentir, de encontrar refúgio, de lembrar e de sonhar.