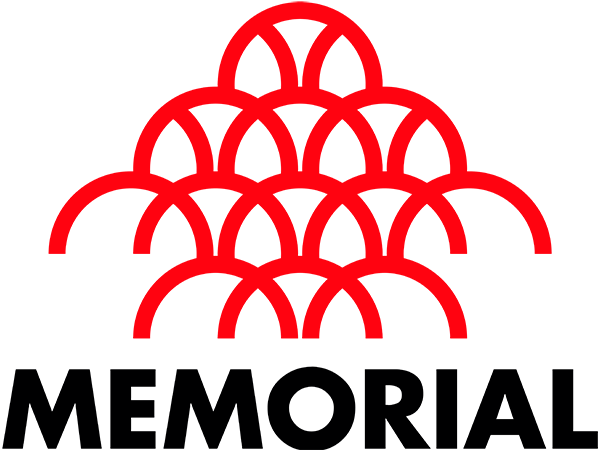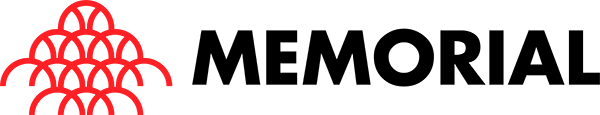COLUNA

João Carlos Corrêa
Diretor Executivo de Atividades Culturais e Relações Institucionais da Fundação Memorial da América Latina
Especialista em Gestão Cultural e Indústria Criativa (PUC-RJ); Jornalismo Cultural e de Entretenimento (Belas Artes-SP); e mestrando em Gestão e Políticas Públicas (IDP-SP)
O Caribe como centro da pauta regional
A América Latina não se explica sem o Caribe, e quem insiste no contrário preserva uma meia verdade confortável
O Caribe obriga o continente a encarar um dado simples e incômodo, o de que a nossa identidade não é somente ibérica, mas também afro-latino-caribenha. Não convém falar de identidade latino-americana sem colocar nessa equação as experiências que nos emprestam Cuba, Jamaica e República Dominicana, citando alguns. A experiência da diáspora africana liga cidades e continentes por trajetórias históricas que produziram práticas culturais, repertórios linguísticos e arranjos sociais comuns. Não é possível negar essa centralidade sem deixar a região presa a um roteiro que privilegia o Atlântico visto a partir da Europa ou dos Estados Unidos. Darcy Ribeiro chamou a atenção para isso quando descreveu a formação de povos novos por processos de mestiçagem, dominação e reinvenção. O Caribe é central nessa dinâmica e, portanto, essencial para a leitura do continente.
 A modernidade na região foi pensada por autores que recusam referências estáticas. Néstor García Canclini fala de hibridação e Stuart Hall discute identidade como processo em disputa. A combinação é produtiva porque desarma o fetiche da pureza e deixa à luz a instabilidade de quem precisa se definir entre o local, o global e o legado colonial. Nesse contexto, basta observar as manifestações artísticas, culturais e as das indústrias criativas, como a música e a culinária. O reggaeton nasce do encontro entre Porto Rico, Cuba e Panamá com o hip-hop mundial, enquanto o samba trabalha matrizes africanas com práticas europeias e se torna linguagem urbana. O jerk, o mofongo e o acarajé contam histórias de circulação cultural e invenção popular. As religiosidades de matriz africana, como o candomblé, a santería e o vodou, fazem parte de nosso cotidiano e formam redes de pertencimento. São fatos sociais a serem estudados, discutidos e acolhidos nos campos social e cultural, sem que percam a dimensão simbólica a que representam.
A modernidade na região foi pensada por autores que recusam referências estáticas. Néstor García Canclini fala de hibridação e Stuart Hall discute identidade como processo em disputa. A combinação é produtiva porque desarma o fetiche da pureza e deixa à luz a instabilidade de quem precisa se definir entre o local, o global e o legado colonial. Nesse contexto, basta observar as manifestações artísticas, culturais e as das indústrias criativas, como a música e a culinária. O reggaeton nasce do encontro entre Porto Rico, Cuba e Panamá com o hip-hop mundial, enquanto o samba trabalha matrizes africanas com práticas europeias e se torna linguagem urbana. O jerk, o mofongo e o acarajé contam histórias de circulação cultural e invenção popular. As religiosidades de matriz africana, como o candomblé, a santería e o vodou, fazem parte de nosso cotidiano e formam redes de pertencimento. São fatos sociais a serem estudados, discutidos e acolhidos nos campos social e cultural, sem que percam a dimensão simbólica a que representam.
Há, no entanto, uma outra camada que costuma passar ao largo. A identidade latino-americana foi recorrentemente definida por contraste com outra, começando pela Europa, depois pelos Estados Unidos. O termo América Latina emergiu no século 19 como oposição à América anglo-saxônica. O Caribe tensiona essa relação e a diversidade linguística que inclui inglês, francês e holandês, além do espanhol, marca a persistência de uma fragmentação que não é apenas geográfica. Ela se traduz em regimes jurídicos distintos, economias dependentes e regras de circulação assimétricas, enquanto o ‘adversário’ conjuntural pode até ser o irmão do Norte, mas o obstáculo estrutural é a continuidade de um mapa colonial que dificulta a cooperação entre vizinhos. Darcy insistiu que o problema central da região está menos na falta de potencial e mais em elites e arranjos institucionais que naturalizam desigualdades e bloqueiam projetos nacionais e continentais.
A política oferece sinais de correção de rota. A Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) afirma a possibilidade de construir convergência sem exigir uniformidade, respeitando a necessária diversidade que sempre defendemos. Em atuação desde 2010, assegura por prática não resolver divergências por canetada, mas desenha um espaço em que países de tradições linguísticas diferentes estabelecem pautas comuns. Historicamente, quando construções políticas da espécie acontecem, a cultura caminha em largos passos à frente. Hoje vemos festivais, editoras independentes, coproduções audiovisuais e literárias que sustentam há anos uma infraestrutura de trocas que funciona, apesar da burocracia continental. Entendo que o que falta é transformar essa prática em política contínua, com orçamento definido e metas verificáveis. Se a região deseja soberania, precisa produzir e distribuir seus sentidos, seus dados e seus conteúdos. Insisto em dizer, a cada oportunidade que tenho, que economia criativa não é entretenimento acessório, e sim política industrial leve, geradora de trabalho e renda, apoiada em educação, conectividade e marcos regulatórios que protegem diversidade e circulação.
De São Paulo, o Memorial da América Latina hoje tem condições de operar como articulador dessa agenda, que já faz parte de sua missão institucional. O diálogo permanente com consulados e instituições culturais caribenhas permite construir programação que aproxime cenas artísticas e públicos. Algumas decisões são objetivas, como as de criar residências que integrem e encurtem as distâncias continentais, e que resultem em obras apresentadas em ambos os territórios. Outras ações são colocadas à mesa, como estabelecer um laboratório de circulação para projetos audiovisuais independentes, promover formação de mediadores culturais com foco em repertórios afro-latino-caribenhos, integrar gastronomia e memória em circuitos que envolvam escolas técnicas e universidades e mesmo operar métricas de impacto que considerem participação, geração de renda e permanência de iniciativas, não apenas alcance superficial.
O leitor pode perguntar por que priorizar isso agora. A resposta é pragmática, pois ignorar o Caribe mantém a América Latina presa a uma narrativa parcial e reduz a capacidade de negociação internacional. Incluir o Caribe reorganiza prioridades e amplia o mercado cultural interno. Também melhora a posição da região no debate global sobre direitos autorais, plataformas digitais e circulação de dados. Sem essa mudança, seguiremos reativos. Com ela, passamos a estabelecer termos e a exigir reconhecimento de nossas especificidades. Trata-se de planejamento, não de entusiasmo.
Há um ponto final que merece franqueza: a retórica da unidade não sobrevive sem compromissos concretos. Darcy jamais poupou as instituições quando elas se omitiram, e o Memorial não deve e não vai se omitir, e por isso atuamos para formular parcerias de médio prazo, com governança clara, e sustentar uma linha editorial que trata o Caribe como parte constitutiva da América Latina. Isso implica tempo de palco, espaço de catálogo, calendário de pesquisa e orçamento. Implica também aceitar que a ideia de identidade será sempre um processo inconcluso. Canclini e Hall já nos alertaram sobre isso e nossa tarefa é construir condições para que essa inconclusão gere mais cooperação, mais produção e mais cidadania.
O passo seguinte está à mão, com nosso trabalho à frente da diretoria de atividades culturais do Memorial atuando de forma mais ativa para atrair uma temporada caribenha que junte música, literatura, cinema, gastronomia e formação de público, acompanhada de indicadores de desempenho e relatórios abertos. E trabalhando nisso, em conjunto com as representações sociais e consulares representativas dos países caribenhos em São Paulo, a discussão deixa o terreno do discurso e entra na nossa rotina institucional. É assim que se produz referência.