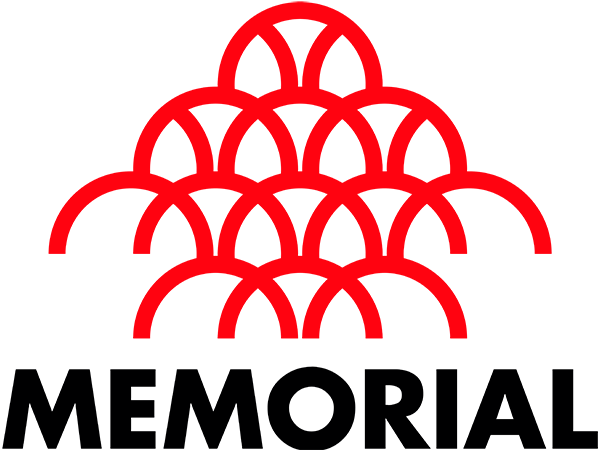COLUNA

João Carlos Corrêa
Diretor Cultural e Chefe de Gabinete da Presidência da Fundação Memorial da América Latina
Especialista em Gestão Cultural e Indústria Criativa (PUC-RJ); Jornalismo Cultural e de Entretenimento (Belas Artes-SP); e mestrando em Gestão e Políticas Públicas (IDP-SP)
De Chaves a Betty, a Feia: um mapa afetivo e sem fronteiras
Existe uma geografia ignorada pela geopolítica. É um território do imaginário sem fronteiras, que escapa dos acordos econômicos ou das ideologias de ocasião. É a geografia da cultura popular, a essência da nossa existência coletiva. Enquanto os governos se sucedem e as crises econômicas vêm e vão de forma desigual, são as manifestações espontâneas do povo que guardam o espírito da América Latina. Personagens como El Chavo del Ocho (o nosso querido Chaves) e Mafalda ignoram o rótulo de simples produtos de entretenimento e se apresentam como embaixadores de uma identidade comum. Entendo essas manifestações como um testemunho de que, no essencial, partilhamos a mesma sensibilidade perante o mundo.
 O caso de El Chavo é paradigmático. Um programa que retratava a vida em uma comunidade simples, uma vila, com personagens que viviam em barris e sonhavam com sanduíches de presunto, conseguiu o que poucas diplomacias conseguiram. Criou um imaginário partilhado do México à Colômbia, de Portugal a Angola. A genialidade de Roberto Bolaños, o Chespirito, residiu em ter captado a universalidade da infância e da vida comunitária nas periferias urbanas. As pequenas disputas pelo lanche, os amores não correspondidos da Dona Florinda, a ingenuidade do Chaves e mesmo a filosofia resignada do Seu Madruga retratavam a realidade de milhões de latino-americanos. A série não foi simplesmente traduzida, mas assimilada, como se sempre tivesse pertencido ao patrimônio de cada nação.
O caso de El Chavo é paradigmático. Um programa que retratava a vida em uma comunidade simples, uma vila, com personagens que viviam em barris e sonhavam com sanduíches de presunto, conseguiu o que poucas diplomacias conseguiram. Criou um imaginário partilhado do México à Colômbia, de Portugal a Angola. A genialidade de Roberto Bolaños, o Chespirito, residiu em ter captado a universalidade da infância e da vida comunitária nas periferias urbanas. As pequenas disputas pelo lanche, os amores não correspondidos da Dona Florinda, a ingenuidade do Chaves e mesmo a filosofia resignada do Seu Madruga retratavam a realidade de milhões de latino-americanos. A série não foi simplesmente traduzida, mas assimilada, como se sempre tivesse pertencido ao patrimônio de cada nação.
De forma paralela, mas com um rasgo cortante de ironia, Mafalda, a pequena pensadora portenha de Quino, encontrou no Brasil dos anos 1970 um terreno particularmente promissor. As suas inquietações existenciais, as suas críticas ácidas à guerra fria, às injustiças sociais e à hipocrisia burguesa foram abraçadas por uma geração que também respirava sob o peso de regimes autoritários.
Mas não foi só no Brasil que a pequena pensadora deixou sua marca. Ela já passou por mais de 30 países, tendo alcançado sucesso internacional na América Latina e Europa. Mafalda questionava o mundo com uma agudeza que subvertia a ordem estabelecida, e países que viviam à sombra da censura souberam decifrar as entrelinhas dos seus quadradinhos. Tornou-se um símbolo de resistência intelectual, com o humor e lucidez operando como veículos de consciência coletiva.
Esta conversa, porém, não se esgota nesses dois ícones. Se alargarmos um pouco mais o olhar, descobrimos outras vozes nesta conversa permanente. Nas décadas de 1980 e 1990, as telenovelas brasileiras exerceram um poder de conexão formidável. Escrava Isaura, exibida até na União Soviética, não era apenas um melodrama, mas sim um argumento abolicionista que falava a nações com histórias semelhantes de opressão. O Clone trouxe para o horário nobre um debate sobre imigração e tradição, temas familiares a muitos países da região.
 Vou aproveitar a discussão para apontar um outro fenômeno, nem sempre tão evidente: o da colombiana Yo soy Betty, la fea, pois apresenta uma conversa em mão dupla. Se as produções do México e do Brasil do século 20 seguiam um modelo de exportação bem-sucedido, um monólogo cultural a ser absorvido por todos, Betty inaugurou uma era de diálogo. Seu formato, a história da secretária inteligente e não convencionalmente bela, não foi apenas exportado, mas sim readaptado e recriado com sotaques locais em mais de 20 países, incluindo os próprios polos tradicionais como México, Índia e Estados Unidos. Nem nós ficamos de fora, produzindo nossa versão brasileira, Bela, a Feia.
Vou aproveitar a discussão para apontar um outro fenômeno, nem sempre tão evidente: o da colombiana Yo soy Betty, la fea, pois apresenta uma conversa em mão dupla. Se as produções do México e do Brasil do século 20 seguiam um modelo de exportação bem-sucedido, um monólogo cultural a ser absorvido por todos, Betty inaugurou uma era de diálogo. Seu formato, a história da secretária inteligente e não convencionalmente bela, não foi apenas exportado, mas sim readaptado e recriado com sotaques locais em mais de 20 países, incluindo os próprios polos tradicionais como México, Índia e Estados Unidos. Nem nós ficamos de fora, produzindo nossa versão brasileira, Bela, a Feia.
Nesse caso em especial, vejo maturidade no nosso intercâmbio cultural. Já não se trata apenas de consumirmos passivamente o sucesso alheio, mas de nos apropriarmos ativamente do seu pensamento universal para recriá-lo à nossa imagem e semelhança. O arquétipo da luta pelo reconhecimento além das aparências era tão potente e tão nosso que todos quiseram contar aquela história à sua maneira. Bete é, talvez, um dos melhores exemplos de que a cultura popular latino-americana é ativa, que não se deixa limitar por fronteiras ou por hegemonias rígidas, e que segue rica na troca contínua e no empréstimo criativo.
Na música, figuras como Vicente Fernández e Celia Cruz tornaram-se referências afetivas transversais. As rancheras mexicanas, com o seu pathos dramático, e a música cubana, com o seu ritmo contagiante de resistência, são fundo musical de festas familiares de norte a sul. A argentina Mercedes Sosa, com a sua voz grave e poderosa, tornou-se a voz dos ‘sem-voz’, um ícone da Nueva Canción abraçado por toda a América Latina como La Negra de todos.
Este sentimento de pertencimento manifesta-se igualmente nos ritos e festividades que permeiam todo o continente. O Día de los Muertos mexicano, com a sua comemoração rica e não lúgubre da morte, encontra ecos em tradições semelhantes por toda a América Central e nos Andes. A peruana Fiesta de la Candelária e o Carnaval brasileiro, na sua diversidade, partilham como matriz comum a catarse coletiva, a fusão entre o sagrado e o profano, a herança africana e indígena que se exprime através da dança e da música. São manifestações que afirmam, em uníssono: “Nós sabemos quem somos e celebramos juntos“.
Essa unidade não homogeneiza, pelo contrário, alimenta-se da diversidade. O que aproxima o llanero venezuelano do gaúcho do pampa é uma relação fundadora com a terra. O que une o tango de Buenos Aires ao bolero cubano é uma melancolia similar diante do amor e da perda. Somos um continente poliglota, inclusive no interior de cada país, mas que ri, chora e se emociona com as mesmas histórias.
São tantos os exemplos possíveis, que não cabem em uma coluna, mas tampouco é necessário. O importante é, neste momento de fraturas ideológicas e narrativas de divisão territorial, valorizar nossa cultura popular como um bem maior. Ela é o patrimônio imaterial do qual nenhuma narrativa política pode apropriar-se. É a cultura que persiste, resiste e nos recorda que, antes de sermos brasileiros, argentinos ou mexicanos, somos latino-americanos, unidos por uma história de lutas e por uma capacidade única de encontrar alegria e significado mesmo na adversidade.
Cabe a nós, gestores e promotores culturais, não apenas celebrar esta conexão, mas fomentá-la ativamente, criando condições para que este diálogo não cesse de reverberar, como uma conversa sem fim que define e reafirma quem somos.
Sim, existe uma geografia ignorada pela geopolítica, mas não pelo povo latino-americano.