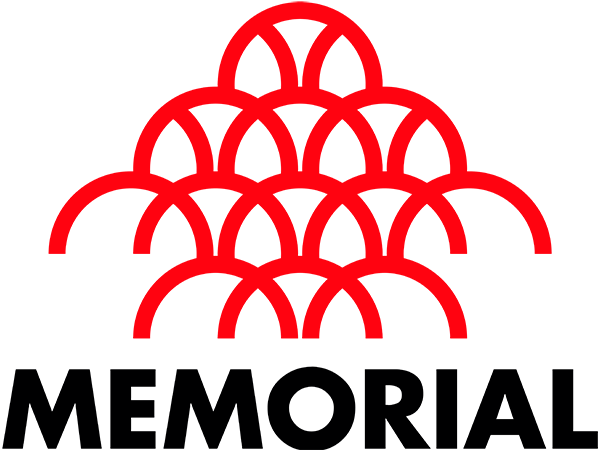ENTREVISTA

Entrevista Tere Chad
Artista chilena traz ao Brasil projeto Neo Norte 5.0 como gesto simbólico de reconstrução do hemisfério sul e como estímulo a se repensar fronteiras, pertencimentos e narrativas
Por Gustavo Ranieri
Tere Chad não é o nome que a chilena Maria Teresa Chadwick Irarrázaval escolheu propositadamente para trilhar sua carreira como criadora vanguardista, curadora e performer. Pelo contrário, foi o nome quem a escolheu, como gosta de frisar. Quando pequena, tentaram tratá-la carinhosamente como Teresita, ao que ela respondia com um “desculpe, mas meu nome é Maria Teresa”. Esse ato constante lhe deu personalidade e, naturalmente, anos mais tarde, começaram a chamá-la de Tere. O sobrenome inglês Chadwick era de difícil pronúncia para os colegas no início da adolescência e, portanto, reduziram para Chad. “Quando entrei na universidade, aos 19 ou 20 anos, precisei criar uma marca pessoal. E como todos já me chamavam assim, adotei oficialmente o nome artístico Tere Chad. É o nome que uso até hoje. Agora, morando em Londres e trabalhando internacionalmente, gosto de pensar que Maria Teresa Chadwick Irarrázaval é quem minha família gostaria que eu fosse, e Tere Chad é quem eu realmente sou, a pessoa que escolhi ser.”
Aos 35 anos e a única artista de uma árvore genealógica repleta de engenheiros, Tere Chad traz para o Brasil, mais especificamente ao Memorial da América Latina, na capital paulista, o projeto Neo Norte 5.0 Trata-se de uma pesquisa artística colaborativa que já passou por países como Chile, Reino Unido, Finlândia e Itália. Inspirado na cartografia invertida proposta pelo uruguaio Joaquín Torres-García (1874-1949) — que posicionava o hemisfério sul como o verdadeiro norte —, o projeto convida o público a repensar fronteiras, pertencimentos e narrativas. Em sua quinta edição, o Neo Norte se estrutura em torno de quatro eixos: migração como força de reinvenção, sincretismo cultural, integração entre tecnologia e natureza e o diálogo entre o xamanismo pré-colombiano e as epistemologias ocidentais.
A exposição acontecerá apenas em dezembro, a partir do dia 4, mas será precedida de duas apresentações performáticas, nos dias 3 e 4, além de um seminário e residência artística durante o mês de novembro. “Desde que comecei o Neo Norte, em 2017, pesquisei quais instituições atuavam na integração regional. A única que encontrei com uma proposta cultural, social e política de união da América Latina foi o Memorial. Sempre sonhei em trabalhar aqui. Mas no início, sentia que o projeto ainda não tinha força suficiente para isso. Agora sinto que chegou a hora. Estar no Memorial é um sonho realizado. E também uma forma de validar internacionalmente o que venho construindo”, celebra ela, que possui também mestrado em Arte e Ciências pela Universidade das Artes de Londres.
Ao trazer o Neo Norte 5.0 para o Brasil, Tere Chad propõe não apenas uma exposição, mas um gesto de escuta e reconstrução simbólica. Ao abrir mão de modelos expositivos convencionais, ela transforma a arte em plataforma de participação e reparação.

Crédito: Samka Meets Neo Norte
O que te levou a querer virar o mapa do mundo de ponta cabeça com o Neo Norte?
Como artista, acredito que o mais interessante é conhecer pessoas de culturas diversas. Amo trabalhar em cidades multiculturais como Londres, Palermo (na Sicília) e São Paulo. Mas vejo, sim, uma baixa autoestima generalizada na América Latina. Existe um desejo de parecer europeu para ser aceito. É triste. Com o tempo, as pessoas me perguntavam: “De onde você é?”, e ao dizer que era da América Latina, a resposta era: “Ah, Narcos!” A primeira imagem que muitas pessoas têm são dessas séries hollywoodianas, cheias de estereótipos. O pior é que elas moldam o imaginário coletivo global. Então comecei a me perguntar: qual é a nossa responsabilidade nisso? E quando cheguei à biblioteca da universidade em Londres, percebi que não havia praticamente nada sobre a América Latina. E pensei: é por isso que as pessoas têm essa visão limitada. Porque nossa formação inteira é centrada na Europa. Fui conversar com colegas latino-americanos e todos compartilhavam da mesma experiência: nunca estudaram teoria latino-americana na escola. Nem no Brasil.
No Brasil, inclusive, a língua, o tamanho e a geopolítica colaboraram para, por muito tempo, existir uma separação explícita do resto da América do Sul e Central, como se fôssemos à parte da formação latina.
No Chile, isso também acontece. O país é isolado geograficamente, cercado pela cordilheira, pelo deserto e pelo oceano. A primeira vez que me percebi como latino-americana foi fora do Chile. Até então, eu só me via como chilena. E isso tem impacto direto no mercado da arte. Em casas de leilão, existe uma categoria separada para “arte latino-americana”, normalmente com preços mais baixos do que a arte europeia ou norte-americana. Isso é reflexo do nosso posicionamento no mundo. E foi aí que refleti: se eu quero ter uma carreira artística internacional, preciso enfrentar esse problema. E pensei em algo que estivesse ao meu alcance. Por isso, comecei cofundando a Sociedade Criativa de Latinos na Universidade de Artes de Londres, em 2018. Estudamos documentos como o manifesto da Escuela del Sur, de Joaquín Torres García, que propõe que o sul deveria ser o norte, e o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Essas ideias foram a base para minha proposta artística.
Então foi assim que nasceu o Neo Norte?
Ele nasceu tanto das minhas experiências pessoais quanto da percepção de que, no sul global, nos ensinam a copiar, não a criar. Até mesmo a curadoria nos nossos museus segue uma lógica eurocêntrica, separando o “folclórico”, o “étnico” e o “ocidental”. Para mim, uma postura verdadeiramente anticolonial não é a negação, mas a integração. Afinal, já são mais de 500 anos de mistura e hibridização cultural. O Neo Norte é sobre isso.
Mas quando você fala em “exportar valores culturais do sul”, quais valores atravessam sua vida como mulher latino-americana?
Essa é uma teoria muito pessoal, que compartilhei com meu parceiro no ano passado. Talvez esteja errada, mas é o que penso. Quando o ser humano começa a ter tempo livre e desenvolver pensamento abstrato, como na Grécia Antiga, surge um equilíbrio entre arte, ciência e filosofia. A arte nos conecta com emoção e intuição; a ciência, com a razão e os sentidos; a filosofia, com o entendimento do ser. Mas com o Iluminismo e o pensamento de Descartes — “penso, logo existo” — houve uma sobrevalorização da razão. Isso levou à Revolução Industrial, ao capitalismo e a uma educação que prioriza o racional sobre o intuitivo. Carreiras ligadas à arte e à emoção passaram a ser vistas como inferiores, improdutivas. Sim, a industrialização ajudou comunidades a combater a pobreza. Mas hoje enfrentamos uma crise climática e, em parte, isso é fruto dessa desconexão. Quando nos desconectamos do corpo, da intuição e do entorno, viramos robôs que só produzem. E se não conseguimos nos conectar conosco, não conseguimos nos conectar com o outro. E sem empatia, não há cuidado com o planeta. Hoje temos avatares digitais, realidades paralelas, mundos onde tudo é satisfeito artificialmente. Mas isso gera uma desconexão profunda. Para mim, a única maneira de reverter essa crise é valorizando novamente a intuição. Moro em Londres, um país que me acolheu e me deu oportunidades. Mas acredito que a intuição é mais presente nas culturas do sul e nas mulheres.

Créditos: Vedi Palermo
Quando o Neo Norte nasceu dentro de você, ele surgiu como um grito ou como uma busca por equilíbrio?
Penso que, quando alguém tenta nos atacar, responder com raiva só nos coloca na mesma energia. Para mim, a arte é um meio de transformar energia, até o lixo, em beleza. O Neo Norte 5.0, por exemplo, quer mudar o olhar sobre o lixo. Mostrar que dá para fazer algo com ele. Não que o projeto vá resolver o problema do lixo têxtil, mas ele propõe uma nova perspectiva. Por isso, não vejo o Neo Norte como provocação, e sim como uma brincadeira. Um questionamento: o que acontece se colocamos o mapa de cabeça para baixo? É uma pesquisa. Um projeto de investigação. E, como me disse o professor Wilton Garcia, que é muito espiritualizado: “Quando você pede para as pessoas olharem o mundo de cabeça para baixo, inevitavelmente, elas revelam o que costumam esconder”. O projeto tem esse poder de revelação. Mas, no fundo, é uma busca por harmonia e justiça para o sul global.
Em residências artísticas, como essa que você vai realizar no Memorial da América Latina, o que costuma te emocionar no contato com os participantes?
Minha primeira experiência com arte participativa foi no México, no Laboratorio Cultural de Nuevo León, com a Cordelia Rizzo. Criamos o projeto Abrazo Entramado, em 2022. Foi uma surpresa. Porque, como artista, a gente é treinado a fazer a nossa obra. Existe um ego envolvido. Mas esses projetos colaborativos me fizeram experimentar outra forma de criação: coletiva, comunitária. A arte contemporânea tem mais de um século de centralidade no ego do artista; isso alimenta o narcisismo. Com arte pública e participativa, você precisa ouvir o outro, abrir espaço para novas ideias. Precisa conciliar cronogramas rígidos com escuta sensível. O mais bonito é quando alguém muda a minha ideia. Isso me obriga a deixar de lado o ego. Ainda mais quando estou em outra cultura, como aqui no Brasil. Mesmo falando português, estou atravessando outras formas de pensar.
E você fala da migração como símbolo. Em que momento da sua vida você migrou emocionalmente?
Minha primeira migração foi aos sete anos. Moramos por quase um ano nos Estados Unidos por causa de um problema de saúde do meu irmão. Eu não falava inglês e tinha que atender o telefone com um dicionário na mão. Foi minha primeira experiência de deslocamento. Mas, na verdade, sempre me senti estrangeira, até dentro do meu próprio país, da minha própria casa. Como uma alienígena. Sempre fui criativa e cresci em um ambiente muito rígido. Isso me afastava. E ser latino-americana também é, por essência, uma forma de migração permanente. Somos mistura. Não há uma única etnia. Nossa identidade é feita de muitas. Isso é a nossa riqueza. Um professor da Finlândia, Teivo Teivainen, escreveu um artigo chamado A latino-americanização da Europa. Ele inverte o olhar: diz que é a Europa que tem muito a aprender com a América Latina, especialmente sobre como lidar com a migração. Afinal, convivemos com a mistura há 500 anos.

Créditos: Latinos Creative Society Manifesto Declaration
E no seu trabalho com tecidos, com reaproveitamento, isso também é uma metáfora para o tempo, a memória?
Com certeza. Minha primeira experiência com upcycling foi com Cordelia, no México. Nos inspiramos nas arpilleras chilenas, uma técnica de bordado que foi arte folclórica e se tornou arte política. Fizemos um “abraço” de 20 metros de tecido para reconectar uma comunidade. O mais interessante do upcycling participativo é que ele gera vínculos. Uma colega me perguntou: “Você não acha que as pessoas se tornam sujeitos dentro da sua arte?” E eu pensei: sim. O processo é mais importante do que o resultado estético. É uma vivência estética, sim, mas, principalmente, é uma forma de reparar o tecido social.
E se você pudesse condensar o espírito do Neo Norte em uma imagem mental, que cena descreveria?
Para mim, a imagem do Neo Norte 5.0 no Memorial da América Latina é como uma mão. Mas não aquela mão das veias abertas da América Latina. É a mão com o mapa invertido, representando o Novo Norte. Uma forma de colocar valor na nossa biodiversidade, na intuição. Não estou tentando negar os problemas da nossa região, pois temos muitos. Mas se partirmos sempre da ideia de que somos vítimas, acabamos permitindo que a dominação continue. A minha forma de subverter isso é mudando a perspectiva: começando pela potência, não pela carência. É preciso reparar nossos tecidos, nossa autoestima, para que possamos propor soluções para o mundo.
Aliás, dentro de todas as edições do Neo Norte, houve algum momento mais marcante para você?
Foram muitos. É um projeto que realizo com pouquíssimos recursos, quase tudo de forma independente, como um circo pobre. Faço tudo: desde captação até montagem. Já são quase 90 artistas envolvidos ao longo das edições. Mas não só artistas: jornalistas, estudantes, videomakers, técnicos, pessoas das equipes dos espaços, todos colaborando de forma desinteressada, por acreditarem na mudança de olhar que o Neo Norte propõe. Mas um momento que me marcou profundamente foi no Neo Norte 4.0, na Sicília, durante uma performance com a artista brasileira Ana Luíza Rodrigues e os sicilianos Andrea Kantos e Riccardo Sergio. Caminhamos juntos marcando no chão o símbolo da chakana, o Cruzeiro do Sul. Era um dia muito quente, passamos horas enfrentando dificuldades para realizar a ação. Mas, no momento em que começamos a caminhar, algo se transformou. Foi como se todos os problemas desaparecessem. Um ritual. E fazer isso no hemisfério norte, inscrevendo o Cruzeiro do Sul, foi muito simbólico.
Como você lida com a tensão entre o reconhecimento internacional do projeto e o desejo de mantê-lo enraizado nas perspectivas latino-americanas?
A primeira edição foi no Chile, depois em Londres, Helsinki, Sicília e agora no Brasil. Sempre priorizo a participação de artistas da América Latina, mesmo que estejam vivendo fora. Mas acredito que, para o Neo Norte ter real impacto, ele precisa também ser validado internacionalmente. Não adianta ficar só entre nós. Precisamos dialogar com o norte global. Por isso, nunca fechei o projeto para a participação de estrangeiros, desde que estejam pesquisando ou engajados com as temáticas do sul. Incluir o norte é fundamental. Não para criar hierarquia, mas para provocar troca real. Não acredito em nacionalismos cegos. O que proponho é mostrar o valor do sul para o norte e, sobretudo, para o próprio sul.
Tere, o que você tenta entender com sua arte em você mesma e que ainda não conseguiu?
Isso é uma pergunta em andamento. Ano passado, na Sicília, um curador do Palazzo Butera me disse: “Você não é uma artista, é uma pesquisadora”. Fiquei surpresa. Mas depois entendi o que ele queria dizer. Uso a arte como meio de pesquisa, como ferramenta para gerar conexões. Nem todos os meus projetos são comunitários, mas cada vez mais busco que sejam. Como disse, estamos vivendo um colapso de conexões. Não só com o outro, mas com nós mesmos, com o corpo, com o entorno. E até com a forma como estruturamos políticas públicas. Não estou dizendo que tudo tem que ser coletivo. Já vimos experimentos que falharam. Mas acho que o mundo está pedindo mais encontros verdadeiros. E a arte pode ser esse lugar. Acho que o que busco é isso: gerar conexões. Com os outros, com o mundo e comigo.

Créditos: Samka Meets Neo Norte